 O Século 21 mal começou e já podemos identificar uma de suas principais características, embora herança final do século passado, o individualismo. A utopia da coletividade sucumbiu ao apelo narcisista de uma cultura de massa que supervaloriza o ego, o eu em detrimento do nós. Nunca a primeira pessoa do singular esteve em tanta evidência. Os outros são os outros e só, diz uma canção. Mas a experiência humana é irônica, pois no centro da própria engrenagem sempre há a contra-mola que resiste, já dizia outra canção. São experiências individuais e coletivas que buscam na solidariedade, pequenas brechas para solucionar esta equação perversa imposta pela realidade. No meio dessa salada fica difícil perceber, identificar, delimitar causas e efeitos. Mas sempre há os que resistem e apostam no contra-senso para furar o bloqueio do egoísmo e da busca individual para os problemas que se apresentam. Se, de um lado a humanidade se apresenta com novas doenças sociais, de outro, novas sonhos coletivos também tendem a surgir. O fim das utopias clássicas têm seus ícones. Brasília pode ser um destes símbolos, assim como a internet, o walkman, o home theatre etc. Todos se prestam a metáforas desta realidade.
O Século 21 mal começou e já podemos identificar uma de suas principais características, embora herança final do século passado, o individualismo. A utopia da coletividade sucumbiu ao apelo narcisista de uma cultura de massa que supervaloriza o ego, o eu em detrimento do nós. Nunca a primeira pessoa do singular esteve em tanta evidência. Os outros são os outros e só, diz uma canção. Mas a experiência humana é irônica, pois no centro da própria engrenagem sempre há a contra-mola que resiste, já dizia outra canção. São experiências individuais e coletivas que buscam na solidariedade, pequenas brechas para solucionar esta equação perversa imposta pela realidade. No meio dessa salada fica difícil perceber, identificar, delimitar causas e efeitos. Mas sempre há os que resistem e apostam no contra-senso para furar o bloqueio do egoísmo e da busca individual para os problemas que se apresentam. Se, de um lado a humanidade se apresenta com novas doenças sociais, de outro, novas sonhos coletivos também tendem a surgir. O fim das utopias clássicas têm seus ícones. Brasília pode ser um destes símbolos, assim como a internet, o walkman, o home theatre etc. Todos se prestam a metáforas desta realidade.
Renato Dalto
Nos últimos meses, Brasília tem-se tornado um circo. Dois senadores renunciaram para não ter o mandato cassado, uma CPI para investigar a corrupção no Governo Federal foi abortada a troco de assinaturas retiradas a peso de verbas liberadas. De Brasília se administra uma crise de energia sem precedentes na história. O Brasil das mega-usinas hidrelétricas corre o risco de ficar às escuras. Essas são as notícias mais visíveis que já poderiam ser suficientes para a população se mobilizar e tirar a história a limpo ainda mais sabendo que o noticiário pode estar omitindo coisas bem piores. Mas NÃO É BEM ISSO QUE TEM ACONTECIDO.
Em seu quarto mandato como deputado federal, Paulo Paim, ex-sindicalista, diz que circula pelos corredores do Congresso Nacional com um peso sobre os ombros: “A cada dia nos tiram um direito”, lamenta-se. Direitos usurpados que passam despercebidos por boa parte da sociedade. Direitos que parecem sucumbir no frio crepúsculo de uma cidade plana, planejada para o poder, isolada do país. “Isso aqui é uma ilha da fantasia, fora da realidade. Existe o plano-piloto e as cidades satélite em volta, para deixar os pobres bem longe. O dia em que as cidades satélite se rebelarem, o plano piloto vai ficar ilhado”.
Brasília, vista assim, é uma metáfora da desilusão. “A utopia acaba aqui”, concluiu o jornalista norte-americano Robert Hughes, no documentário A Utopia em Crise, um dos oito episódios da série O Choque do Novo, produzida para a BBC de Londres. Hughes é ácido ao ver o centro do poder no Brasil: “Brasília é o triunfo do automóvel (…) O carro aboliu as calçadas e o pedestre é uma irrelevância (…) São quilômetros de vazios platônicos”. E o maior elogio vem chamuscado pela ironia: “É a cidade nova mais fotogênica do mundo”.
Este retrato do poder, pintado com imagens, textos ou desabafos também reflete as grandes inquietações do presente: a mais genérica de todas é o atestado do fim dos grandes projetos coletivos, embalada pela queda dos regimes do leste europeu e das dificuldades de governos nascidos de revoluções, como Cuba e Nicarágua. O fim do segundo milênio foi marcado pela eloqüência dos arautos do triunfo do capitalismo. A supremacia do indivíduo sobre o coletivo. O poder medido pela capacidade de consumir. A Brasília poderosa cercada pela miséria. Por isso Hughes foi enfático: “a utopia acaba aqui”.
Para o historiador Luiz Roberto Lopes, esses sinais mostram que “o capitalismo derrotou os movimentos sociais. Triunfou a essência de uma ideologia. É o lucro de quem puder lucrar na competição sobre os outros”. Paulo Paim se preocupa ao constatar que muitos sindicatos estão atrelados a questões desvinculadas dos grandes problemas sociais. “Hoje muitos sindicatos ficam mais envolvidos com a administração do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e não acompanham os grandes debates do país, inclusive na questão trabalhista”. Enquanto isso, circulam no congresso propostas como a de comissões de fábricas para negociar nas empresas litígios trabalhistas ou propostas para enfraquecer direitos dos trabalhadores, como a de permitir que acordos entre empregados e patrões possam suprimir ou alterar direitos conquistados. “Vai ser a Lei do Cão, do grande capital contra o peãozinho sem condições de negociar”, afirma Paim. E ninguém conseguirá lutar sozinho contra tudo isso. “A gente, aqui no Congresso não é ninguém se não houver mobilização popular. A gente vira espantalho”.
O narcisismo e a falsa diferença

“Ninguém mais está contente. E a ideologia dominante já não convence ninguém de que este é o melhor dos mundos”. (Luiz Roberto Lopes, historiador)
Esse isolamento entre poder e sociedade pode também ser traduzido no dia-a-dia, nas relações interpessoais, nos apelos do consumo, da mídia, de uma liberdade de opção que se restringe a escolher um produto na vitrine – se tiver dinheiro para comprar, é claro. “Se exalta o individualismo via narcisismo para quem tem poder de consumo. Fazem do indivíduo uma forma de exibição. Cada vez mais as pessoas são estimuladas a serem diferentes por fora e iguais por dentro. Há uma estandartização dos sentimentos. A chamada interatividade personalizou tudo: é a internet, o walkman, o videogame. E o senso do coletivo, nisso tudo, fica perdido”, atesta Lopes.
Grandes discussões sobre o fim das utopias, o dejá vu dos grandes projetos sociais têm esbarrado num profundo dilema entre a realidade vivida e sua representação pela mídia, pelo turbilhão de informações, pela substituição das relações pessoais pelo mundo virtual dos e-mails e sinfonias silenciosas de isolamento (tele-serviços, tele-sexo, visitas virtuais pela internet). Uma realidade que talvez trace um cotidiano de pequenos suicídios. Algo que Jean Baudrillaird chama de “banalidade mortífera”, num artigo publicado no jornal Folha de São Paulo: “Toda a realidade se tornou experimental. Na ausência de destino, o homem moderno está entregue a uma experimentação sem limites sobre si mesmo”.
A felicidade à venda
“Toda a realidade se tornou experimental. Na ausência de destino, o homem moderno está entregue a uma experimentação sem limites sobre si mesmo”. (Jean Baudelaire)
O consumo de drogas engloba dois atos que refletem hábitos sociais bem corriqueiros: a droga propriamente dita – a permitida, como o álcool, ou a proibida como a cocaína – e o ato de consumir, verbo-emblema do capitalismo e da sociedade contemporânea. “A felicidade mora num shopping center”, ironiza Domiciano Siqueira, 42 anos, presidente da Associação Brasileira de Redutores de Danos (Aborda), uma ONG que atua no terreno pantanoso do resgate da cidadania dos usuários de drogas. É um trabalho que alia reintegração social com prevenção de riscos, como o programa que faz a troca de seringas entre usuários de drogas injetáveis para prevenir que sejam infectados pelo HIV. “Não significa que sejamos favoráveis ao uso de drogas, mas já que a pessoa vai usar, que aprende a utilizar”, explica Domiciano, que usou drogas e parou. “Vi que a droga me impedia de realizar os meus sonhos mais profundos.” Foi quando também se deu conta de que é difícil encontrar o tratamento adequado. “O que existe são tratamentos para o sujeito ter uma nova religião.”
Para Domiciano, a dependência de drogas é um passo à segregação social patrocinada pela própria sociedade. Ou pela deturpação das instituições. “Qualquer norma quebrada, como usar drogas, é vista por três ângulos. A saúde vê como doença, a justiça como delito e a religião como pecado. Quer dizer: assumir que usa drogas é assumir-se doente, delinqüente ou pecador”. E então, em vez de assumir o uso de drogas, a única saída é silenciar. Ou procurar um meio que aceite esse consumo. Muitas vezes, a via é o crime organizado.
É contra essa segregação, acompanhada pelo silêncio, a solidão e o preconceito que a Aborda traça ações. Como o Centro Conviver, em Porto Alegre, ou trabalhos integrados ao SUS, em Belo Horizonte, ou o Projeto Cidadania, em Ribeirão Preto (SP), sede nacional da entidade. A estimativa do Ministério da Saúde é que existem no Brasil um milhão de usuários de drogas injetáveis. As outras drogas fogem a qualquer censo. Como as drogas permitidas que instigam o consumo.
Vazio, indignação, solidariedade
E assim vêm chegando, de todos os lados, os alertas de grandes doenças sociais. E sobra perplexidade. “Vivemos uma transição onde sempre há a sensação de vazio”, alerta Lopes. Mas nessa realidade de flagelos e poderes podres, não enxerga o fim da história. Pelo contrário: “A utopia sempre nasce do presente enfermo”, afirma. “Ninguém mais está contente. E a ideologia dominante já não convence ninguém de que este é o melhor dos mundos”.
Por trás da perda desse sentido mais primário – a referência do outro – estão, na verdade, os grandes flagelos. O mais latente é a fome, que já teve campanha nacional liderada por Herbert de Souza, o Betinho, que com sua fragilidade física e olhar terno comoveu o país. Betinho, soropositivo, portador do HIV, virou “símbolo” num Brasil bombardeado pelo neo-liberalismo, com os poderosos de plantão embevecidos com a globalização e uma economia que se abria ao grande capital internacional. Betinho legou ao país a veemência da indignação e a fala branda da solidariedade. Lembrando que a gente precisa olhar o outro sem ter à porta um flagelo que pode ser a Aids, a violência urbana, a natureza destruída. Ou a fome. Drummond, o poeta, já dizia é preciso outrar (colocar-se na pele do outro), mas como praticar este verbo, que sequer consta em nossos dicionários, sem que a perspectiva da possibilidade do outro faça parte da nossa práxis cotidiana?
É dentro desse contexto que muitos cidadãos têm se indignado a partir da lição mais cruel: o aprendizado pela dor. Lúcia Araújo é um desses casos. Mulher da classe alta carioca, confessa que “antes vivia com muito orgulho à sombra de dois homens de sucesso: meu marido, executivo bem sucedido de uma gravadora, e meu filho, ídolo nacional”. Lúcia é a mãe de Cazuza, vítima de Aids, morto em 1990.
Em outubro desse mesmo ano, vários artistas fizeram o show Viva Cazuza – Faça Parte Desse Show. Lúcia resolveu doar o dinheiro arrecadado para um hospital público. No ato da doação, uma surpresa. “Fui surpreendida por um convite: não queremos só o dinheiro, queremos você aqui.” Estava fundada a sociedade Viva Cazuza, uma ONG de caráter filantrópico para ajudar portadores do HIV e realizar programas de prevenção. E Lúcia passou a ver o mundo com outros olhos: “O mundo fica mais humano quando você exercita esse sentimento ímpar que é a solidariedade. Nossos corações se acalmam, deita-se a cabeça no travesseiro e dorme-se tranqüilo. E vou mais além: quem não tem solidariedade não tem caráter”.
Solidariedade é uma palavra do momento. Palavra reveladora que significa olhar para o outro. Sozinho, em pequenos grupos ou em grandes causas coletivas. Paulo Paim lembra o caso do movimento sindical. “A palavra-chave é avançar, é solidariedade com o povo, com os setores excluídos da sociedade”.

“Contra o que nos rebelamos agora? Eu me rebelo contra minha própria indiferença, contra a idéia de que o mundo é o que é e que não tem nada que eu possa fazer” (Bono Vox)
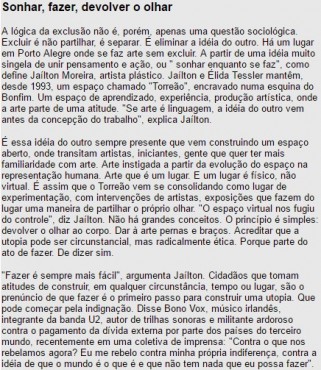
A utopia vive
Por Luiz Pilla Vares*
“Nos encontramos em tempo de reverter esse abandono e esse massacre. O ser humano sabe fazer dos obstáculos novos caminhos, porque basta o pequeno espaço de uma greta para que a vida possa renascer.”
Ernesto Sabato

O final do Século 20 foi o triunfo do mercado, a vitória do capitalismo em todos os níveis, econômico, político, ideológico, militar. Mas significou também a exacerbação de todas as taras do sistema: a alienação em níveis gigantescos, a exclusão social crescente e assustadora, a separação cada vez maior entre os ricos e pobres, quer nas relações entre nações, quer entre classes sociais, a supremacia incontestável do império norte-americano, a progressiva deterioração do meio ambiente, o que coloca em risco a própria sobrevivência da humanidade. Um breve século, como o definiu o historiador Eric Hobsbawn, mas pleno de acontecimentos. E um destes é talvez o principal: a derrocada surpreendente e rápida dos regimes burocráticos do impropriamente chamado “socialismo real”. Na verdade, estes regimes burocráticos , como tão bem percebeu Robert Kurz, estavam dentro do sistema capitalista global e a léguas de distância de um regime socialista.
Por paradoxal que possa parecer, a realidade mundial, a globalização, abre novas perspectivas para o socialismo. Em primeiro lugar, o triunfo neoliberal não invalidou a crítica socialista ao capitalismo. Pelo contrário, nunca em toda a história da humanidade foi tão evidente a brutal contradição entre o capital e o trabalho, a tal ponto que o chamado exército industrial de reserva, que foi um dos elementos fundamentais nos três séculos do sistema capitalista tradicional, hoje é secundário e cada vez menos importante. O que se verifica, agora, é o desaparecimento puro e simples do emprego. Ou seja, a revolução tecnológica, que poderia possibilitar mais ócio, mais tempo livre e mais desenvolvimento cultural, transforma-se num pesadelo, na condenação à miséria irreversível de grande parte da humanidade. E no outro polo concentra a riqueza em proporções jamais vistas.
Entretanto, este cenário sombrio tem a sua contrapartida. Os trabalhadores estão diante do fracasso irreversível das duas grandes tendências do movimento operário do Século 20, o stalinismo e a social-democracia, o primeiro definitivamente sepultado, a segunda cada vez mais atada ao neoliberalismo, dois becos sem saída. Com isso, o movimento socialista pode retomar o seu sentido original, inteiramente liberto das tutelas que constituem a sua negação e que significaram a incrustação da revolução burguesa – o jacobinismo – num outro tipo de movimento social, um movimento que, como acentuava Marx , tem como ponto central a autoemancipação: a “emancipação dos trabalhadores deve ser obra dos próprios trabalhadores”.
Esta constatação não significa em nenhum momento um retorno puro e simples ao passado. Não podemos pensar como se fosse possível um retorno ao Século 19 e à Comuna de Paris, nem mesmo a Revolução Bolchevique de 1917 é nossa contemporânea, embora contenham ensinamentos inestimáveis, como todos os grandes acontecimentos históricos, desde a antiguidade até a Grande Revolução Francesa de 1789. O que deve ficar como valor irrenunciável destes dois séculos de movimento socialista é o seu fundamento democrático, a impossibilidade de sua realização prática sem a mais ampla democracia social e política, a certeza de que nenhum partido, nenhuma liderança pode substituir a decisão coletiva das classes trabalhadoras.
Ao nível da ideologia, o socialismo foi contaminado durante anos e anos pelo determinismo, como uma conseqüência fatal das contradições do capitalismo, como uma lei natural. Engels e Kautsky foram em grande parte responsáveis por esta visão que, em última análise, levava à passividade e ao conformismo teórico, ao contrário de Marx, que sempre colocou em suas obras a questão básica das leis tendenciais, isto é, o socialismo é uma possibilidade, nunca uma certeza. No transcorrer da Primeira Guerra Mundial, Rosa Luxemburg reafirmou este dilema em seu célebre desafio: socialismo ou barbárie. Na realidade contemporânea, estamos muito mais perto da última alternativa. Mas justamente por estarmos livres das tutelas, livres dos determinismos e de qualquer certeza fatalista, recuperamos a capacidade crítica, que foi a origem do próprio movimento socialista. O socialismo é possível. Ainda permanece como a única alternativa ao sistema capitalista. Mas para que a utopia permaneça viva é essencial que ela seja permanentemente crítica, livre, que se compreenda a si mesma como uma instituição imaginária da sociedade e nunca como uma lei natural, uma instituição que se proponha como objetivo central de suas propostas políticas o autogoverno dos trabalhadores, o aprofundamento e a radicalização da democracia e nunca a sua restrição, sob qualquer argumento.
O cenário internacional é promissor. Desde Seattle, passando por Quebec, pela Suécia, pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra de nosso país, pelos zapatistas do México, pelo Fórum Social Mundial de Porto Alegre e pelas experiências gestionárias das administrações petistas no Brasil, vemos crescer um movimento anticapitalista vivo e autônomo, talvez em gestação, mas certamente não conformista e com imensas possibilidades de resistência nesta fase difícil da história humana, quando ressurgem com força as guerras étnicas, o racismo, o fundamentalismo religioso. Temos, porém, um trunfo: recuperamos a lição de Rosa Luxemburg em outro momento trágico da história: “não estamos perdidos; pelo contrário, venceremos se não tivermos desaprendido a aprender”.
* Jornalista
A cultura da autodestruição
Se o individualismo nunca esteve tão em alta, também nunca se ouviu falar de tantas iniciativas que partiram de motivações individuais e que resultaram em grandes ações em áreas específicas como educação e saúde. Algumas contribuíram, inclusive, para a formação de ONGs e outros agrupamentos. Parte dessas iniciativas foi “motivada” por um fato trágico e particular. É o caso, por exemplo da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, de Porto Alegre. Essa ONG nasceu no dia 20 de maio de 1996 – um ano depois da morte do próprio Thiago num acidente de trânsito. A tragédia que mudou a vida dos pais de Thiago, Diza e Régis Gonzaga, se transformou em ação. Diza, arquiteta, resolveu vasculhar o que estava por trás do que acabou vitimando o filho. Encontrou o que ela chama “cultura do herói”. “Os jovens estão sem uma bandeira, desencantados, com uma cultura auto-destrutiva”, afirma. O automóvel é apresentado como poder.
Foi desenvolvendo um trabalho para combater essa “cultura” que surgiu a Fundação e uma série de iniciativas. O primeiro ato foi um abaixo-assinado com 30 mil assinaturas entregue ao então Ministro da Justiça Nelson Jobim para aprovar o novo Código Nacional de Trânsito. Outro, foi o Exército de Sonhos, uma peça teatral que já percorreu mais de 400 escolas, tentando desmistificar a chamada “cultura do herói”. É o cotidiano de quatro jovens que se acham imortais. Por trás dessa peça há um movimento que vem se alastrando por 150 cidades brasileiras chamado Vida Urgente.
Diza e Régis Gonzaga, pais de Thiago, não criaram um movimento para prevenir acidentes, nem para substituir atribuições de quem tem de fiscalizar isso. “Nosso movimento é pela vida”, explica Diza. Porque a perda de Thiago é mais uma morte anunciada, propagandeada por quem vende imprudência como quem oferta sabonetes. O desabafo do professor Régis Gonzaga é taxativo: “Cobro também do Ministro da Justiça, homem íntegro e sensível, que proíba através de decreto a veiculação de publicidade celebrando a velocidade de novos modelos de automóveis nacionais e importados. Ela infringe a lei, Sr. Ministro, e induz ao crime”.











