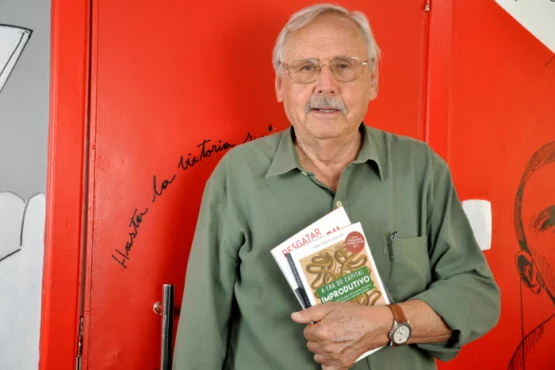Dinheiro custa caro para o povo e os bancos lucram como nunca

Foto: Marcos Santos/USP Imagens/Fotos Públicas
Foto: Marcos Santos/USP Imagens/Fotos Públicas
A taxa básica de juros brasileira, a Selic, vem sofrendo cortes sucessivos desde 2016, está há quatro meses estagnada em 6,5% ao ano e não há indicativo de mudança pelo menos até as eleições. Com isso, a taxa de juros reais (o juro básico, descontada a inflação) está na faixa dos 3% ao ano. Mas o consumidor continua pagando cerca de 300% ao ano de juros no cartão de crédito e no cheque especial. Em resumo: nos últimos dois anos a taxa básica, que serve de parâmetro para as demais, foi cortada a mais da metade, mas o custo do crédito para a população continua na estratosfera, assim como o lucro dos bancos. As instituições, que em épocas de Selic alta a apontam como a causa do pesado custo do dinheiro para o consumo, em períodos como o atual, usam outras justificativas. Agora, valem a insegurança dos próximos meses no país, a instabilidade no cenário internacional, a dívida pública crescente no mundo e a política imprevisível do presidente norte-americano Donald Trump. E, adiantam os economistas, esse arranjo não vai mudar nem a curto e nem a médio prazo. Por quê?
Por uma combinação que vai da estruturação de um modelo financeiro no país que permite uma lucratividade excessiva aos bancos à falta de educação financeira dos consumidores, passando pela necessidade do governo de rolar a dívida pública, os impostos, um sistema bancário altamente concentrado e uma cultura que perpassa outros setores, inclusive os produtivos. Nela, vale a máxima de que se é possível obter lucros gordos vendendo para poucos, não há necessidade de baixar a margem e vender para muitos.
Hoje, parte significativa do lucro dos bancos vem das operações próprias com títulos públicos, ações e outros ativos. Em função disso, eles não precisam tentar aumentar a lucratividade via oferta de empréstimos. Entre analistas do mercado, contudo, há o entendimento de que esta conjuntura confortável para as instituições, de aplicações de curto prazo e alta remuneração, também tende a se esgotar.
“Os juros elevados e a alta liquidez do mercado monetário tornaram-se partes integrantes da dinâmica da economia brasileira e marcam as relações entre a política monetária, política fiscal e gestão da dívida pública, oferecendo aos investidores condições de conciliarem, sem risco, aplicações de curto prazo e alta rentabilidade. As alterações dos juros mexem com um dos preços básicos da economia e interferem com interesses variados, desde trabalhadores – donos de contas em fundos de pensão – até bancos públicos, passando por famílias, rentistas, indústrias e outras atividades que, com liquidez, obtêm ganhos financeiros que ajudam a compor a rentabilidade”, explica o professor livre docente do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Luiz Francisco Lopreato. Neste contexto, o professor destaca o papel dos títulos públicos, o “ativo por excelência do mercado”, que atraem parte substancial da poupança financeira e garantem altas taxas de valorização.
Apesar de baixar e estabilizar a Selic, o governo responde por uma parcela da manutenção dos altos juros ao consumidor. Porque mantém altas taxas na venda de títulos da dívida interna emitidos pelo Tesouro Nacional, de forma a garantir a atração dos compradores via elevada rentabilidade e, ainda, pela absorção de parcela significativa do crédito disponível em troca dos títulos da dívida (a chamada operação compromissa ou de mercado aberto). “O Brasil tem um problema fiscal. O déficit brasileiro é muito alto, as projeções da dívida são crescentes. A medida em que o governo se endivida, absorve o crédito disponível. Com sobra ‘escassa’ de crédito, o preço sobe”, resume o economista Estêvão Kopschitz Bastos, da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Kopschitz assinala ainda a pouca educação financeira do brasileiro, que se submete às taxas praticadas. “As pessoas reclamam, mas compram. Então, se elas compram por um determinado preço, por que o banco vai deixar de vender? A taxa de juros, em finanças, é equivalente ao tempo na física, ou seja, o quanto estou disposto a poupar hoje para consumir amanhã. Uma sociedade muito impaciente requer uma taxa de juros muito alta. O fato é que o brasileiro tem pouca educação financeira e pouca noção de poupança”, dispara.
Lucros altos na compra e venda do dinheiro
Se governo e consumidores contribuem para a manutenção do alto custo do dinheiro, o que dizer dos bancos? As instituições financeiras, que em épocas de alta da Selic a apontam como justificativa para os altos juros cobrados, nos períodos de baixa, como agora, assinalam que ela é apenas uma referência dentro do universo do chamado spread bancário. O spread é a diferença entre o custo de captação do dinheiro pelo banco e o custo cobrado do tomador final, ou seja, a diferença entre o valor de compra e venda do dinheiro. É fato que a Selic representa uma fatia de aproximadamente 20% na composição do custo do dinheiro. Mas também é fato que o spread praticado no Brasil é altíssimo, os bancos lucram muito com ele, a pouca competição dificulta a baixa dos juros e que, com taxa básica estável e risco de calote em queda, ele poderia ser bem menor.
Para compor o spread são agregados os custos de captação; a inadimplência; as despesas administrativas; os tributos mais o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) cobrado de todas as instituições associadas e que visa proteger correntistas, poupadores e investidores em caso de intervenção, liquidação ou de falência; e a margem financeira das instituições. Historicamente, a inadimplência e os custos de captação do dinheiro por parte das instituições são apontados como os maiores vilões na composição das altas taxas. No final do ano passado, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou um estudo elencando 14 ações para diminuir o spread.
Custo de captação caiu, mas os juros não baixam

Foto: Marcos Santos/USP Imagens/Divulgação
Foto: Marcos Santos/USP Imagens/Divulgação
Os bancos argumentam que o custo de captação no Brasil é muito elevado. Destacam que no país o depósito compulsório (um dos mecanismos de controle da economia por parte do governo, que obriga as instituições a depositarem no BC parte de todo o dinheiro captado) é um dos mais altos do mundo. E reivindicam diminuição na carga tributária como forma de estimular o crédito.
O desempenho das instituições e os estudos do próprio Banco Central mostram, porém, que a situação dos grandes bancos em operação no Brasil é bastante confortável e eles seguem ganhando muito. Divulgado em junho pelo BC, o último Relatório de Economia Bancária (REB) mostra que, em 2017, o custo de captação dos bancos caiu. Além disso, as maiores instituições fecharam o ano passado com lucros vultosos, que se repetiram no primeiro trimestre deste ano. Com variações, em seus comunicados ao mercado, creditam os ótimos resultados à queda no custo do crédito (as provisões para devedores duvidosos) e nas despesas administrativas, ao aumento das receitas de prestação de serviços e cartões de crédito e aos resultados das intermediações financeiras. Ao mesmo tempo, há queda da inadimplência.
Tudo isso poderia fazer os juros do consumo baixarem. Mas, aí, surgem novas justificativas. “O BC não tem nenhuma indicação inflacionária que o obrigaria a subir a taxa de juros. Por outro lado, há uma insegurança no Brasil: incerteza em relação a dólar e condução de política econômica pós-eleição. Engessamos o curto prazo então vamos ficar assim um pouco parados até saber quem vai sentar na cadeira. Essa incerteza, aliada à alta de taxas nos Estados Unidos, faz o juro subir. E como não há recuperação econômica, os bancos não querem baixar taxa não”, justifica o consultor da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e professor do Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa, Ricardo Rocha.
O Relatório de Economia Bancária também chamou a atenção para um fator que vem sendo apontado de forma repetida nos últimos tempos: a alta concentração bancária no país, que inibe a competitividade. O estudo da autoridade monetária mostra que dois bancos públicos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, dominam o mercado de crédito pessoal, com 39,8% de participação. E os três maiores bancos privados (Itaú, Bradesco e Santander) detêm outros 36,3%. Isso significa que, juntos, eles ficam com 76,1% do bolo de crédito.
No relatório, o BC adianta que uma maior concorrência significa menor custo do crédito e maiores benefícios para a população, e aponta isso como uma das metas de sua agenda, mas faz uma ressalva. “Maior competição não requer necessariamente menor nível de concentração bancária. Concorrência não é uma questão dicotômica, ou seja, não se pode resumir a questão a uma pergunta se há ou não concorrência. A questão relevante é qual o grau de competição”. O questionamento não é novidade. Relatório antigo do Fundo Monetário Internacional realizado no início dos anos 2000 pela economista e então técnica do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, Agnès Belaisch, que causou polêmica e se transformou em referência no país, já apontava os bancos no Brasil como pouco competitivos e funcionando como um oligopólio em que poucas instituições controlavam o mercado. Estudos mais recentes do FMI vão na mesma linha.
“A taxa do dinheiro para o consumo não baixa em função também do oligopólio dos cinco grandes bancos, da baixa concorrência e do fato de nem o cadastro positivo ser obrigatório. Isso independe de juro baixo e inflação baixa. A queda do spread bancário vai ser mais lenta do que pensamos. As pessoas cometem alguns erros básicos com o crédito, como incorporar o limite do cheque especial em sua programação de orçamento e financiar muito o cartão de crédito. Mas os bancos não estão preparados para o caso de ocorrer uma mudança cultural. Se o consumidor mudar, não sei onde vão ganhar o dinheiro que ganham hoje pelo uso ‘não adequado’ do crédito”, explica Ricardo Rocha.
Alta lucratividade em meio à crise

Foto: Tomaz Silva/Abr
Foto: Tomaz Silva/Abr
Após um período de baixa em 2016, os principais bancos do país apresentaram alta lucratividade no ano passado e no primeiro trimestre deste ano, ao mesmo tempo em que há queda no custo do crédito. O Itaú Unibanco, maior banco privado brasileiro, registrou lucro líquido recorrente de R$ 24,8 bilhões em 2017, nada menos do que 12,3% acima do registrado em 2016. No primeiro trimestre de 2018, o lucro líquido recorrente do banco foi de R$ 6,4 bilhões: uma alta de 2,2% em relação aos últimos três meses de 2017 e de 3,9% na comparação com os primeiros três meses de 2017, e que superou todas as projeções do mercado. Enquanto isso, o custo do crédito do Itaú (seus gastos com perdas por empréstimos de má qualidade) segue em baixa: recuou 28,3% na comparação anual. Em comunicado no início de maio, o próprio banco informou que o resultado se deveu ao avanço das receitas de serviços, “principalmente as relacionadas à administração de recursos, pacote de serviços e cartões de crédito”, e à queda da inadimplência.
Os altos lucros não são exclusividade do Itaú. O Bradesco, segundo maior banco privado do país, teve lucro líquido recorrente de R$ 5,1 bilhões no primeiro trimestre, uma alta de 4,9% em relação ao último trimestre de 2017 e de 9,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2017 o Bradesco registrou lucro líquido recorrente de R$ 19 bilhões, 11,1% superior ao resultado de 2016. O terceiro maior privado, o Santander, fechou 2017 no Brasil com 42% de aumento nos lucros sobre 2016, batendo longe todas suas outras divisões internacionais: o Brasil respondeu por 26% dos lucros totais do Santander no mundo, equivalentes a R$ 25,8 bilhões, ou 6,6 bilhões de euros.
Entre os gigantes públicos, a Caixa Econômica Federal (CEF) obteve lucro líquido de R$ 3,2 bilhões no primeiro trimestre, uma alta de 114,5% sobre o mesmo período de 2017. O banco atribuiu os resultados à queda nas provisões para devedores duvidosos e nas despesas administrativas, aliada ao aumento das receitas de prestação de serviços e aos resultados das intermediações financeiras. Foi o maior resultado da história trimestral do banco e não é seu primeiro lucro recorde nos últimos tempos. Em 2017 a CEF teve lucro líquido de R$ 12,5 bilhões, mais de três vezes o lucro de R$ 4,1 bilhões registrado em 2016. O Banco do Brasil, por sua vez, registrou lucro líquido de R$ 2,749 bilhões no 1º trimestre, um resultado 12,5% acima do registrado nos três primeiros meses do ano passado (R$ 2,443 bilhões), mas 11,6% abaixo dos números do quarto trimestre de 2017. A queda foi atribuída à fraqueza continuada da demanda por crédito. O detalhe é que o Banco do Brasil teve lucro líquido de R$ 11 bilhões em 2017, quase 55% mais do que o resultado obtido em 2016.