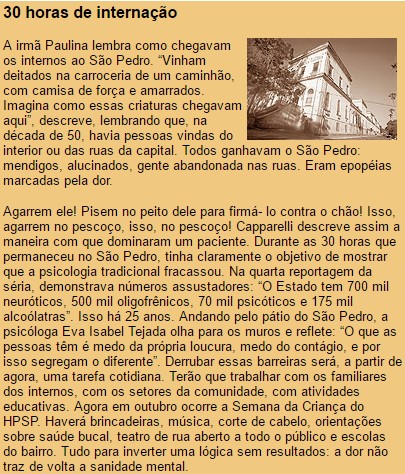Relato jornalístico do cotidiano do São pedro, feito há 25 anos, ajudou a derrubar os muros da instituição A noite cai sobre o grande hospi tal do bairro Partenon, em Porto Alegre. No alojamento, pacientes passeiam lado a lado mas mergulhados na profunda solidão dos próprios delírios. Sussurram a ninguém frases desconexas: – E a gente começa a cantar: felicidade… – Canta baixinho senão eu te dou uma injeção! – Paizinho…. – Me matem! Podem me dar choque elétrico! – Eu não sou louco. Essa noite jamais será esquecida pelo jornalista Sérgio Capparelli. Está registrada na página 10 do jornal Folha da Manhã do dia 30 de outubro de 1974, a segunda reportagem de uma série de cinco. A série foi o marco para uma discussão que hoje ganha força: fazer do Hospital Psiquiátrico São Pedro um lugar onde a doença mental não seja segregada por muros, celas e tratamentos marcados pela dor e o sofrimento. O repórter decidiu vivenciar a experiência de um interno e propôs a matéria ao jornal. Capparelli foi internado por um colega a pretexto de ter problemas mentais. Influenciado pela leitura dos anti-psiquiatras, uma corrente alternativa da psiquiatria cultuada especialmente na década de 70, queria justamente fustigar o que se discute hoje: por que segregar a doença mental, quais os tênues limites entre sanidade e loucura? Passados 25 anos de uma reportagem que entrou para a história do jornalismo gaúcho, a questão ganha força justamente num momento em que se implanta o projeto “São Pedro Cidadão”, uma série de iniciativas para humanizar o tratamento da saúde mental. Olhando para o passado, Capparelli põe em dúvida a qualidade da reportagem que fez. “Não é uma grande reportagem, mas foi oportuna porque levantou essa discussão sobre abrir as portas dos manicômios”, diz. Na época, ele havia voltada da Europa, onde morou na Alemanha e Inglaterra. Saiu de casa permeado pelo espírito dos tempos, uma mochila nas costas e passagem só de ida. Acompanhou algumas experiências européias, onde nos manicômios prosperavam os chamados “coletivos”, em que os internos geriam o próprio hospital. Leu “A Morte da Família”, de Ronald Laing, e outros autores como David Cooper. Estava impregnado pela visão de uma psiquiatria anti-convencional, que não demarca uma fronteira ortodoxa entre normalidade e loucura. Na volta a Porto Alegre, foi trabalhar na Folha da Manhã e propôs a matéria sobre o São Pedro. Um colega apresentou-o com uma história: estava em surto devido a uma frustração amorosa. Capparelli lembra detalhadamente como entrou no hospital: tinha cabelos compridos e barba grande, vestia calça jeans remendada com couro e uma jaqueta do exército israelense e trazia o livro “Tratado de Magia Prática” debaixo do braço. Passou pela triagem, ganhou diagnóstico de maníaco depressivo e o número de registro 013890-7. O HSP estava superlotado, com 5 mil pessoas. E ele foi para a ala mais pesada, disposto a descrever os horrores que esperava ver. E viu: “Ele parecia um animal acuado quando a enfermeira comprimiu o êmbolo fazendo saltar umas gotas de líquido transparente. As pessoas normais que o seguravam firmaram os pés no cimento e José do Patrocínio disse mais uma vez que não queria ser dopado. A enfermeira disse “tanto pior para ti”, e localizou com agulha as veias azuladas que lhe sulcavam o moreno do braço”. É verdade que, hoje, muita coisa mudou no São Pedro. Circulam pelo hospital 882 internos (752 moradores e 130 pacientes). No último dia 29 de junho, quando o hospital completou 115 anos, foram desativadas as celas onde os pacientes em surto eram isolados e começou a se buscar uma nova relação entre o manicômio e a sociedade. “Estamos trazendo as pessoas aqui para dentro, fazendo atividades com corais de escolas, com o pessoal do carnaval, com o estágio voluntário e fazendo um trabalho intenso no bairro por meio do conselho do Orçamento Participativo”, explica a psicóloga Eva Isabel Tejada, do setor de projetos especiais do HSP. Sérgio Capparelli, hoje professor de comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, olha com simpatia todo esse movimento. A loucura, diz ele, pode estar sempre mais próxima do que se imagina. Pode estar dentro de casa, e varia de acordo com os padrões que se impõe à normalidade. No cotidiano da Irmã Paulina, que cuida doentes mentais do HSP desde 1951, acumularam- se algumas imagens terríveis, como os internos chegando ao hospital amarrados e empilhados na boléia de um caminhão. Ela embarga a voz ao lembrar. “A primeira coisa que providenciávamos era a comida e um banho”. Porque aí já não se sabia se era loucura gerando a miséria humana ou a miséria humana gerando a loucura. Not available Not available