Se eu perder a utopia, eu perco a vida, diz Maria Salete van der Poel 

Foto: Cristiano Goldschmidt
Maria Salete: Ele (o presidente Jair Bolsonaro) está destruindo tudo, mas a educação eu acho a maior vítima, e dentro das vítimas do MEC a maior delas até o momento foi a Educação de Jovens e Adultos.
Foto: Cristiano Goldschmidt
Natural de Campina Grande, Paraíba, Maria Salete van der Poel foi presa 17 vezes durante a ditadura militar, estudou e trabalhou com Paulo Freire, de quem foi amiga até sua morte, em 1997. Pioneira da educação carcerária no Brasil, professora aposentada da Universidade Federal da Paraíba, ela esteve em maio na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), onde ministrou uma aula sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em contextos de privação de liberdade. Na mesma oportunidade lançou seu livro Vidas Aprisionadas (Oikos Editora, 2018), no qual relata sua prática educativa com presidiários. Com uma vida dedicada à educação de camponeses, operários, domésticas, prostitutas, meninos de rua, internos em manicômios e presídios, aos 82 anos Maria Salete tem uma memória de fazer inveja a muitos jovens. Cofundadora e participante ativa até hoje da Rede de Letramento de Jovens e Adultos da Paraíba (Releja), a educadora recebeu o Extra Classe para uma entrevista exclusiva, quando ela relembrou o início de sua carreira docente e sua atuação nos movimentos sociais, da relação com Paulo Freire, de suas prisões e perseguições políticas, das vezes em que foi impedida pelos militares de realizar concursos públicos e de assumir as vagas mesmo quando aprovada em primeiro lugar, além da briga judicial para poder defender sua dissertação de mestrado, proibida por ser considerada subversiva.
Extra Classe – Como foi o início da sua carreira docente?
Maria Salete van der Poel – Embora minha mãe fosse filha de um homem arquimilionário, ela era muito orgulhosa e nunca quis sua ajuda financeira. O meu pai era um homem simples, de uma família de classe média. Casaram-se, tiveram nove filhos, e quando ele morreu não deixou nada. Então nós tivemos que lutar pela sobrevivência. Eu tinha uma escolinha de ensinar deveres, e minha irmã, Eneida Agra Maracajá, dois anos mais velha que eu, naquela época já tinha cursado Pedagogia e era professora do jardim de infância do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Nos juntamos e, em 1956, criamos o Instituto Moderno Nossa Senhora da Salete. Começamos com 13 alunos, e em 1973, quando fechou, nós tínhamos 400 alunos. Era conhecido em Campina Grande como a universidade infantil, por conta da modernidade do ensino. Eu fiquei lá 17 anos, até quando vim morar em João Pessoa com meu esposo, Cornelis Joannes van der Poel.
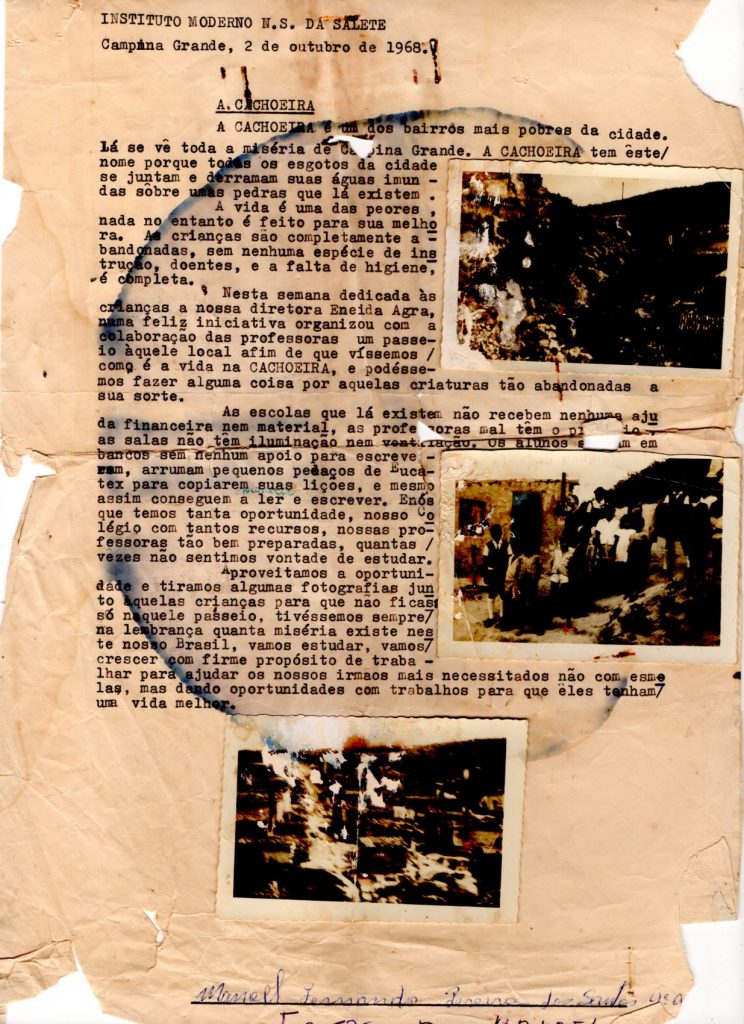
Foto: Arquivo Pessoal
Instituto Nossa Senhora da Salete: ação social
Foto: Arquivo Pessoal
EC – E como se deu o seu envolvimento com os movimentos sociais?
Maria Salete – Comecei a militar com 15 para 16 anos no chamado Centro Estudantil Campinense, em Campina Grande, quando estava terminando o que antigamente se chamava Ginasial, o curso secundário. Mais tarde, quando fiz vestibular, passei para a Juventude Universitária Católica (JUC). Existiam vários movimentos, a Juventude Estudantil Católica (JEC), a Juventude Operária Católica (JOC) e a Juventude Agrária Católica (JAC), entre outros, que eram ligados à CNBB. Na JUC, a partir de 1962, começou a haver uma cisão. De um lado ficavam os chamados cristãos de direita, e de outro lado os chamados cristãos de esquerda e, à frente dela, estava o Herbert de Souza, o nosso famoso Betinho. E eu os acompanhei, porque achava que a ala de direita da JUC era muito clerical. Fui tomando partido nas reuniões e nos encontros. Até que em março de 1962 houve um congresso em Minas Gerais que terminou com a cisão final da JUC. Quem era da JUC da direita ficou na JUC, e quem era da JUC da esquerda criou a Ação Popular (AP). E hoje está provado historicamente que a Ação Popular foi o movimento, naqueles dois últimos anos antes da ditadura, que mais revolucionou o movimento estudantil e universitário.
EC – Juntamente com outros professores, a senhora foi uma das primeiras a estudar e a trabalhar com Paulo Freire, em 1963. Pode nos falar um pouco dessa experiência?
Maria Salete – Entre esses movimentos dos quais falei anteriormente surge o chamado método Paulo Freire, que alfabetizava em 42 horas. Eu já era educadora, e como tarefa da Ação Popular, fui a indicada de Campina Grande para fazer um curso com Paulo Freire. Ele era coordenador do Departamento de Extensões Culturais da Universidade do Recife. Éramos 30 universitários de todo o Brasil.
EC – A relação com Paulo Freire permaneceu próxima? Em que medida ele influenciou sua atuação profissional?
Maria Salete – A partir desse primeiro encontro com o Paulo Freire nós ficamos indo para Recife toda a semana, durante o ano de 1963. Desde 1962 já existia em João Pessoa a Campanha de Educação Popular da Paraíba (Ceplar), e quando nós voltamos de Recife para a Paraíba nós criamos a Ceplar em Campina Grande. Depois, quando Paulo estava no exílio, ele me mandava cartas. Ele me considerava a sua melhor discípula. Ele dizia “minha discípula está aqui”. E eu dizia “não quero ser sempre a discípula de ninguém”. Criei meu próprio caminho depois dele, mas preciso dizer da influência enorme que ele teve na minha vida. Porque na minha vida teve o antes e o depois de Paulo Freire. Eu já era uma excelente alfabetizadora, mas o que me faltava era a ideologia, era a consciência política, era a militância, e isso eu só vim a descobrir depois de Paulo Freire. Mais tarde ele foi professor da PUC de São Paulo, e depois à convite de (Luiza) Erundina, eleita prefeita de São Paulo (1989 – 1993), ele assumiu a Secretaria de Educação. Aí meu contato com ele ficou familiar. Quando ele ia pra Universidade Federal da Paraíba (UFPB) sempre ia lá pra casa. Ficou uma amizade muito grande. Eu não sei como é que eu não tive um infarto na hora em que eu soube da morte dele, porque o Paulo morreu muito jovem, com 76 anos.
EC – E como se deu esse processo que culminou com o desenvolvimento da Educação Popular no Nordeste, no início da década de 1960?
Maria Salete – Começou a partir do governo de Miguel Arraes, que tinha um pessoal que trabalhava com Cultura Popular. Já existiam os Movimentos de Cultura Popular, tudo isso dentro da JUC, da União Nacional dos Estudantes. Foi a partir dos Movimentos Populares Estudantis que surgiu a Educação Popular, mas nós não chamávamos ainda de Educação Popular, nós chamávamos Cultura Popular.
EC – Isso se dá a partir do Arraes, mas também a partir da formação de vocês no curso com Paulo Freire?
Maria Salete – Sim, ao voltarmos para as nossas cidades fomos criando os Centros Populares de Cultura (CPCs), com cinema, músicas, shows, com uma grande força também dos intelectuais do Rio de Janeiro. E aí, no mesmo período de Paulo Freire, vem aquele peso pesado de intelectuais, o Augusto Boal, o Guarnieri, o Vianinha, o Paulo Pontes, que em 1972 fez uma montagem linda de O Homem de La Mancha. O Dom Quixote era o Paulo Autran, e a Bibi Ferreira fez o papel da mulher por quem Dom Quixote se apaixonava. Quando se apresentaram na Feira Campina Grande, eu e mais três colegas da Ação Popular organizamos tudo. Era a gente que levava, articulava a hospedagem, alugávamos o caminhão que virava palco. Tinha o teatro improvisado, onde o mais importante era a participação deles no meio do povo. Num dado momento você não distinguia quem era o ator e quem não era o ator, esse é o ponto principal do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal.
EC – A senhora foi presa pela primeira vez em 1964, em Campina Grande. Foi a primeira de outras 17 vezes. Em que circunstâncias se deram essas prisões?
Maria Salete – Foi quando estourou o Golpe, no dia 1º de abril de 1964, e eu nem sabia por que é que estava sendo presa. Estava dando aula à minha turminha quando o exército armado de fuzil e metralhadora cercou a casa onde nós tínhamos nosso colégio. Imagine a balbúrdia e a confusão. Me colocaram no camburão. O major que me prendeu foi de noite para a televisão, e essa minha prisão foi mostrada pra toda Capina Grande, aí se descobriu que aquela grande educadora, que era uma das donas de um colégio aclamado, era comunista. Mas eu não era comunista, era da Ação Popular. Aí o Major Viana disse que eu era como uma melancia, verde por fora e vermelha por dentro. Ainda hoje, quando eu vou a minha cidade, tem gente que solta a piada, “eita que a melancia chegou”, porque quando eu apareço por lá eu gosto muito de tomar parte em reuniões e movimentos. E sempre que tem movimento lá eu sou a primeira a aparecer.
EC – E qual foi a alegação para a sua prisão?
Maria Salete – Eles não disseram nada. Quando entrei no camburão, graças a Deus tive um alento, porque dentro do camburão estavam outros companheiros, minhas amigas Natil, Ophélia e vários outros. Até então nós não sabíamos que tinha estourado o Golpe, que o João Goulart tinha fugido e tudo. Fomos levados para o quartel, as mulheres numa cela e os homens em outra cela. Passou-se o dia e a noite e nós não fomos ouvidos. Ficamos sem notícias de nada, e com a roupa que tínhamos sido presos. No outro dia, perguntamos aos soldados que estavam nos vigiando o que é que tinha acontecido. Aí a gente entendeu que era o Golpe Militar. A primeira prisão durou oito dias até que eles nos ouvissem. Agora a acusação, ninguém disse, em nenhum momento. Eu fui presa 17 vezes, e em nenhum momento eles disseram o que era que tinha de fato contra nós.
EC – E como ocorreram as negociações para a soltura?
Maria Salete – Como eu era de uma família de posses, aí entraram os advogados. Mas a família de minha mãe fez uma verdadeira festa com a minha prisão, porque eu soltava panfletos na rua e falava a favor da Reforma Agrária, quando todos eles eram latifundiários, a começar pelo meu avô. Então na família de minha mãe houve uma festa em comemoração a minha prisão. Não só da família de minha mãe, mas da burguesia da cidade em comemoração aos ditos comunistas presos.
EC – Soube se houve alguma denúncia contra a senhora?
Maria Salete – Não houve denúncia formal contra a gente. Eles há muito tempo estavam nos acompanhando. Por exemplo, eu escrevia, era participante fundadora da Ceplar lá de Campina Grande. Participava também das Ligas Camponesas, e em matéria de tortura quem mais sofreu naquela época foram os camponeses das Ligas Camponesas. Já tinha participado de movimento estudantil. E a conversa deles é que em toda a “toca” em que metiam a mão, as moças que eles encontravam metidas em tudo éramos justamente eu, Ophélia Maria de Amorim, que é advogada em Campinas (SP), e que ainda hoje é militante do Movimento das Mulheres, e a Isa Guerra. Éramos as mais vistas, o que significa que era público e notório a nossa participação, não precisava de denúncia nenhuma.
A Ceplar já estava organizada, o prefeito que tinha sido eleito cedeu à Ceplar três salas em plena prefeitura. No dia 1º de abril, eles arrombaram e levaram tudo o que tinha dentro. Eu tenho os documentos hoje, porque cinco anos atrás eu consegui através de um advogado fazer uma petição para o Ministério da Justiça e o meu processo foi liberado. Foi quando eu vim saber da minha denúncia. Nós sabíamos que a grande acusação era sermos comunistas, mas não sabíamos até então dos detalhes da denúncia: “Maria Salete van der Poel, 23 anos, nascida em Campina Grande, etc. é comunista ativa”…; e encerrava: “trata-se, portanto, de uma comunista ativa que recebeu dinheiro e armas de Moscou pra fazer a Revolução do Brasil”.
EC – A senhora sofreu algum tipo de tortura durante as prisões?
Maria Salete – Quando eles começaram a nos levar para o quartel de João Pessoa, em Cruz das Armas, foi mais sério. E pior ainda quando de João Pessoa nos levaram para o Quartel General de Recife, onde a coisa foi mais feia. Teve tempo que passei três meses presa em Recife. Sofri muita tortura psicológica, e ainda hoje tenho pesadelos. Tortura de dar depoimentos demorados. Chega um momento em que você diz o que quer e o que não quer, fica exaurida com depoimentos de 8, 10, 12 horas, porque eles vão mudando de pessoas que nos perguntam, e levei muitos baldes de água gelada no meu rosto. Mas a pior coisa que eu passei foi quando nos colocavam num camburão à noite e nos levavam. Diziam que estavam nos colocando ali porque iam dar um fim na gente. Enquanto o camburão rodava a gente sabia que ainda estava em Recife por conta do calçamento, porque tinha a trepidação, quando chegava na parte de areia, de terra batida, a gente sabia que saía da cidade. De repente, pelas 23 horas, meia noite, abriam o camburão e diziam “agora a gente vai metralhar vocês”. E não metralhavam. E cada vez que isso acontecia era um terror, porque nos botavam um capuz, tiravam lá no meio do mato e no outro dia quando vinham nos buscar colocavam o capuz de volta.

Foto: Arquivo Pessoal
Atendimento à população carente e aos camponeses
Foto: Arquivo Pessoal
EC – Sua experiência profissional inicia em uma escola privada, tendo optado na sequência por trabalhar nas periferias da cidade. Ou seja, universos completamente distintos.
Maria Salete – Nós tínhamos o nosso colégio, onde estudavam as crianças da burguesia, se bem que tinha várias crianças pobres, mas que ninguém sabia, nós as acolhíamos, e o prefeito também mandava bolsistas. Mas a escola arcava com material, com o que era necessário, mas ninguém nunca descobriu. Eu passava o dia no colégio, mas militava à noite. Nós realmente conseguimos formar uma equipe de 12 excelentes professores, e funcionávamos de manhã e à tarde. De manhã era o jardim da infância, a primeira e a segunda série, e a tarde eram os maiores, a terceira e a quarta série (ensino fundamental – anos iniciais). De manhã eu era alfabetizadora e à tarde eu dava aula de Literatura Brasileira e Portuguesa. À noite, eu militava há mais de quatro anos nos bairros. Fui a primeira alfabetizadora com a proposta do Paulo Freire no bairro Casa de Pedra. Nos fins de semana eu ia para Sapé, para reuniões com os camponeses e para o curso de Paulo Freire.
EC – Politicamente ou profissionalmente a senhora sofreu algum tipo de perseguição?
Maria Salete – Fui para João Pessoa em dezembro de 1972, quando meu esposo que era sociólogo e filósofo, foi transferido para ser consultor de assuntos didáticos do pró-reitor da Universidade. Pra mim foi ótimo, mas depois se tornou muito problemático, porque eu tinha recebido um convite do Secretário de Educação da Paraíba, José Carlos Dias de Freitas, para assumir a Coordenação do Complexo Roger-Tambiá. A nomeação foi publicada no Diário Oficial, mas o exército barrou porque eu estava com três processos e com a fama de subversiva. Só vim a me ver livre desses processos bem mais tarde porque tive um grande advogado, Antônio de Brito Alves, que foi o advogado de Miguel Arraes e de Paulo Freire. Minha mãe penhorou uma joia que tinha quase trezentos anos pra poder pagar esse advogado. Então, até 1975 fiquei quase quatro anos dentro de casa porque para onde eu pendia o exército me proibia de tomar posse. Fiz três concursos na UFPB. No primeiro, em 1972, eu nem entrei. Quando cheguei na porta tinha dois seguranças, um de cada lado, dizendo “a senhora não pode entrar”. O segundo foi em 1974, fiz a prova, mas nem foi corrigida. O outro foi em 1976, para a disciplina Didática da Linguagem, tinha muita experiência e fiz as provas. Concorri com uma professora de Natal, uma cearense e duas do Sul. Passei em primeiro lugar em todas as etapas e não fui nomeada.
EC – Em 1978, a senhora entrou para o mestrado em Educação na UFPB. Sua pesquisa, realizada no presídio do Roger, é considerada pioneira…
Maria Salete – Mesmo ano em que iniciei meu trabalho no presídio do Roger, abriu o mestrado de Educação Permanente na UFPB, que tratava da Educação de Jovens e Adultos. Fiz a seleção e passei em quinto lugar, mas só pude frequentar o mestrado porque entrei com um habeas corpus, senão não tinha feito. Fiz o mestrado com perseguições tremendas durante o período todo. Minha dissertação foi sobre a aplicação do sistema Paulo Freire no presídio. Cursei todos os 36 créditos, mas era proibido falar no nome do Paulo Freire. Quando estava com a dissertação quase pronta, veio uma das maiores lutas que eu tive na Universidade. Eu não queria nenhum orientador indicado pelo mestrado porque eram linhas de pensamento completamente diferentes da que eu tinha. Eu queria como orientadora a Astrogilda Carvalho Paes de Andrade, que era da equipe de Paulo Freire. Aí foi outro “balacobaco”, e ela teve que assinar um documento aceitando e assumindo a minha dissertação, e que aceitava a Universidade não ter nenhum gasto financeiro com a vinda dela pra João Pessoa pra me orientar, porque ela morava em Recife. Depois, pra defender a dissertação foi outra novela. Só vim a defendê-la nove meses depois de pronta, porque o diretor do mestrado começou a implicar comigo, não aceitava o assunto e a abordagem, me dizia: “faça uma dissertação sobre qualquer outra coisa pra você ter seu título de mestra”. E aí foi outro habeas corpus. Na mesma época, meu marido havia sido nomeado coordenador para criar um mestrado de Ciências Sociais, e lendo toda a documentação ele descobriu que em uma das resoluções dizia que quando o orientando entregava a dissertação ele tinha 45 dias pra defender. Isso foi um achado na minha vida, Cornelis tirou uma cópia e me deu. No outro dia eu fui falar com o diretor do mestrado. Todo dia eu ia. Nesse dia fui entrando e ele disse: “Não é possível, e hoje chegou mais cedo do que nunca, chegou não é nem oito horas”. Eu disse: “porque eu sei que você chega aqui sete e meia”. Aí fui entrando e ele “vai entrando assim é?” Eu respondi: “Vou, porque hoje quem vai falar não é você não, quem vai falar sou eu”. Peguei o documento e o habeas corpus e botei em cima da mesa dele, sentei e disse: “Leia! Você tá vendo que não tem saída Loureiro, porque agora quem está irregular é você e o mestrado. Eu já cumpri minha parte, estou sentada há meses esperando pra defender a minha dissertação”. No dia em que fui defendê-la, foi a retomada do pensamento de Paulo Freire no Brasil, porque era proibido falar nele. E hoje está provado, depois de muita pesquisa que fizeram, que sou a pioneira da educação carcerária no Brasil. O primeiro trabalho de educação em presídio no Brasil é meu e resultou no meu primeiro livro, que saiu em 1981 e que se chama Alfabetização de adultos. Sistema Paulo Freire: Estudo de Caso num Presídio, no qual eu conto, pormenorizadamente, como foi que eu entrei no presídio e como organizei todo o material a partir da voz e do conhecimento dos presidiários. Fui muito fiel ao pensamento Freireano, tanto que em 1981, quando Paulo chegou ao Brasil, eu lhe mandei um exemplar e ele me telefonou. Seu retorno foi altamente positivo.
EC – Depois de ter sido impedida de participar dos concursos, quando conseguiu entrar para dar aula na universidade?
Maria Salete – Só pude entrar na Universidade pra dar aula depois da defesa de minha dissertação, quando fiz o quinto concurso. Linaldo Cavalcante, que já tinha sido diretor da Escola Politécnica de Campina Grande, estava deixando a presidência do CNPQ porque fora eleito Reitor da Universidade Federal da Paraíba. Eu tinha alfabetizado seus dois filhos e fui ter uma conversa com ele. E ele me disse “Olhe, nós vamos criar o Centro de Educação e vai abrir o concurso. Fique de orelha em pé, você vai se inscrever, e ai de quem botar dificuldade, porque essa briga eu compro”. Fiz minha inscrição e me candidatei pra cinco disciplinas. Tirei primeiro lugar nas cinco. Escolhi História da Educação Brasileira e prática de ensino de Sociologia da Educação. Durante os 18 anos em que lá trabalhei, peguei meus estagiários e fomos trabalhar com meninos de rua, com prostitutas mirins que tinham entre 9 e 12 anos, fomos em bibliotecas populares, me voltei para os movimentos populares. Só tinha oito estagiários por semestre, e era disputada, inclusive porque os alunos me procuravam de outros centros pra fazer essa sociologia comigo.
EC – A senhora veio a Porto Alegre a convite da Faculdade de Educação da UFRGS para proferir uma aula sobre a Educação de Jovens e Adultos em contextos de privação de liberdade e para lançar o livro Vidas Aprisionadas (Oikos Editora, 2018).
Maria Salete – Entrei no presídio em 1978 e assinei um documento para a Secretaria de Segurança do Estado. Nesse documento dizia que eu não poderia entrar nem com máquina fotográfica e nem com gravador. Então eu fiz um diário com a minha rotina de trabalho. Ninguém sabia desses diários, meu marido morreu sem saber. Dava aula até às 10h30 e meu esposo só ia me buscar ao meio dia. Durante esse espaço de tempo eu ficava com os presos, entrava em cela, entrava em pavilhão, fiquei arrumando aquele pessoal, e ao invés de passar um ano, passei três anos e dois meses. Escrevi esses diários, mas nunca tive a intenção de publicá-los, tanto que os botei numa pasta. Até que um colega meu, afilhado de Paulo Freire, Agostinho Rosas, chegou um dia lá em casa com uma orientanda pra fazer uma entrevista comigo, porque ela ia fazer uma peça sobre o presídio. Por acaso eu tinha algumas coisas das aulas do Paulo e que fui mostrar a essa pessoa, e isso estava junto aos diários. Aí o Agostinho me disse: “Salete, eu posso dar uma olhada aqui?” No fim da entrevista ele disse “Salete, pelo amor de Deus, eu tô aqui passado. E isso que você tem aqui? Eu não permito que essa pasta a partir de hoje fique enterrada”. Então foi ele que sugeriu a publicação. O professor Osmar Fávero, que é a maior autoridade em Educação Popular no Brasil, diz que o livro é uma obra prima, que quem lê não tem vontade de parar. A repercussão tem sido muito grande. É um livro de emoção pura. Não queria escrever, fui para o meu psiquiatra e disse “Dr. João, eu vou reviver as tragédias que vi”, porque um dia entrei lá e tinha havido um massacre no domingo anterior, foi uma calamidade o que eles fizeram de tortura. Um dos presos a quem eu era mais ligada, encontrei degolado e dividido ao meio. Foi uma das cenas mais brutais que eu vi na minha vida. E isso tudo está no livro.
EC – Que análise a senhora faz da atual situação carcerária no Brasil?
Maria Salete – Eu não vejo no momento atual nenhuma perspectiva pra se fazer um trabalho de resistência, primeiro por conta da situação dos presídios, porque eu visitei o presídio do Roger e são as gangues que mandam lá dentro. E isso é o normal no Brasil. Para complicar a situação, a nossa conjuntura é a pior possível. Eu nunca pensei que me sentiria perdida depois de 56 anos de militância, porque o trabalho que tínhamos, que era a Rede de Letramento de Jovens e Adultos da Paraíba (Releja/PB), que foi criada em março de 1989, e agora em 2019 completou 30 anos, foi enterrada, porque houve uma destruição geral em educação no MEC. Ele (o presidente Jair Bolsonaro) está destruindo tudo, mas a educação eu acho a maior vítima, e dentro das vítimas do MEC a maior delas até o momento foi a Educação de Jovens e Adultos. Tinha a Secretaria de Educação, Cidadania, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, e esse (presidente) de agora extinguiu completamente, como também extinguiu a Comissão Nacional de Educação de Jovens e Adultos. Então, pra mim, se a situação não melhorar, a EJA está enterrada neste governo. O Ministro Vélez era meio adoidado, nunca tinha trabalhado com Educação, e esse Abraham Weintraub, além de nunca ter trabalhado com educação sequer é da área. Ele está mandando até nos currículos, retirou das universidades a Sociologia e a Filosofia, que são disciplinas que levam a pensar.
EC – E as perspectivas?
Maria Salete – São péssimas. Pior ainda para os presos, porque as pessoas não entendem o que é o preso, porque querem vê-lo somente como um preso, ou então morto. Só são essas duas alternativas para a sociedade. Apesar de que agora surge uma luz no fim do túnel com a abertura na universidade, que está se voltando para este mundo dos presos. Não sei quais serão as estratégias para se desenvolver esse trabalho dentro dos presídios. Está se pensando em uma rede em âmbito nacional, mas está muito difícil. O professor Roberto da Silva, da USP, tem uma produção muito boa sobre os presos. Ele que também foi preso, e galgou seu caminho com a educação, chegou até a universidade. Ele disse que passou três dias agora em Mato Grosso e que não sabe o que é pior, se é a situação dos presos, dos presídios, ou de quem trabalha lá dentro. Um caos. Mas enquanto estiver viva eu acredito numa utopia, vou fazendo a minha parte. Porque se eu perder a utopia eu perco a vida. E é preciso ter muito conhecimento do povo, da base, porque se for esperar por esse governo não tem chance nenhuma.











