Aldyr Garcia Schlee literalmente desenha seus personagens com tintas verossímeis carregadas de humanidade. E joga sobre eles uma imaginação desenfreada a partir de uma rigorosa pesquisa documental. É um fronteiriço de Jaguarão, professor universitário, escritor, desenhista, jornalista e tradutor. Conhecido como o homem que desenhou a antológica camiseta canarinho, usada pela Seleção Brasileira e o autor do conto que inspirou o filme O Banheiro do Papa, do livro O Dia em que o Papa foi a Melo, publicado originalmente em espanhol. Fez a tradução comentada do clássico Don Segundo Sombra, do argentino Ricardo Guiraldes.

Foto: Stela Pastore
Foto: Stela Pastore
Schlee é um escritor visceral que mapeia os tipos fronteiriços em contos de livros como Contos de Sempre e Uma terra só (vencedor, respectivamente, da Bienal Nestlé de Literatura de 1982 e 84). Que disseca paixões futebolísticas em contos do futebol, que reconstrói o mundo feminino que cerca o nascimento do mito Carlos Gardel em Os limites do impossível ‒ contos gardelianos. É também o romancista denso e magistral em Don Frutos, sobre o exílio do primeiro presidente constitucional uruguaio Fructuoso Rivera.
Artista múltiplo, constrói maquetes dos lugares que descreve. E nesses lugares ousa todas as possibilidades da imaginação. A primeira e fundamental leitora: Marlene Rosenthal Schlee. A companheira desde sempre. A única pessoa que manipula seus originais. Com 81 anos, três filhos, três netos, 12 livros, Schlee fala da vida com encantadora vitalidade.
Extra Classe ‒ Como nasceram os Contos Gardelianos que compõem o livro Os limites do impossível?
Schlee ‒ Eu tenho um grande amigo, o Washington Benevides, de Tacuarembó, tradutor do Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa e o maior poeta vivo do Uruguai. Devo a ele o estímulo para que conhecesse o outro lado da história do Gardel. Dizia que o Gardel era uruguaio. Eu também me preocupei muito com essa questão da identidade, da nacionalidade do Gardel. O Washington dizia que o pai do Gardel era um grande bandido. Ele viveu na segunda metade do século 19, esteve sempre com a polícia e forças militares, e utilizava leis absurdas, a lei da perseguição, que é uma coisa inacreditável. Esse era o pai do Gardel, foi comissário, depois chefe de polícia. Eu conheci esse lado dele.Só conheci o Valle-Eden (onde Carlos Gardel nasceu, em Tacuarembó, no Uruguai) depois que escrevi o livro.
EC ‒ Os Contos Gardelianos têm um encanto na narrativa, feita apenas por mulheres. Como foi compor essas personagens?
Schlee ‒ Primeiro eu tive que me dobrar por dentro pra escrever com o sentimento das mulheres da época, quase do século 19, com todas as limitações e sufocamento por parte do machismo que predominava no Prata, na zona pampeana, a partir dos conquistadores. Eram caçadores do gado alçado, tinham a rusticidade do ambiente e eram os portadores da tradição machista espanhola violentíssima. Homens que dispunham das mulheres a seu bel prazer. E tinham tantas mulheres quanto quisessem ou pudessem.
EC ‒ Todos os contos são muitos fortes, mas tem um que é impressionante – “Eu sei como foi e era (ou O nascimento de Gardel)”, sobre a parteira. Como chegaste a esse personagem?
Schlee ‒ Só com algumas indicações da sua existência. Sabia que era filha de brasileiros, que era também parteira, fazia simpatias, bruxarias e tinha acompanhado revoluções da região. Era uma das que faziam o rapa nos soldados mortos. Tiravam tudo e se tinha um moribundo ela matava por caridade, era a despenadeira. Daí que vem a palavra pena. A outra personagem foi uma índia levada pra Tacuarembó pela mulher do cônsul, aquela que teve a filha e era amante do genro – com quem fez casar com duas filhas. Essa mulher trouxe outra para ela e tinha uma relação tão íntima que era provavelmente homossexual. A índia era de uma tribo do sul da Patagônia. E a outra é a mulher – das tantas – que foi amante do pai do Gardel na estância Santa Blanca, ali no Valle Eden. Pesquisando sobre o general presidente uruguaio, Don Frutos, soube que essa mulher viveu com ele em Jaguarão e animava um circo de cavalinhos chamado Os Irmãos Rey. Tinha estado em Tacuarembó no ano que coincide com a morte da segunda mulher do pai do Gardel. Consegui também uma foto dela num jornal de época, num cartaz anunciando o circo, com outra cantora que se apresentava no teatro construído pelo pai do Gardel (Teatro Escayola, de Tacuarembó). Hoje eu sou o único estrangeiro que faço parte da comissão de reconstrução desse teatro.
EC ‒ Tens uma meticulosidade na construção da memória. E o teu último livro trata disso Memórias de o que já não será. Como tratas essa passagem do tempo?
Schlee ‒ Isso depende da minha posição diante do tempo e da vida. Nós, os jornalistas, temos um compromisso muito grande com o andamento do tempo, portanto com a história. No jornal diário a gente trabalha com uma limitação temporal. Fui um dos fundadores da Última Hora. Só tem dois sobreviventes desse jornal: eu e o Flavio Tavares. A Última Hora fez 50 anos e ninguém registrou. Foi um dos mais importantes jornais da época. Hoje tem gente querendo admitir que o jornal impresso acabou. É um desrespeito e está por trás disso a mídia eletrônica que pode fazer um jornalismo sem qualquer responsabilidade. A mídia impressa está perdendo espaço à medida que não cumpre com suas obrigações temporais. Os jornais de domingo saem sábado à tarde, sem nenhum compromisso com seus leitores, que não sabem nem o que acontece sábado à tarde ou à noite. Sou contra isso e contra a criação desses monopólios da informação, o que é grave pela condição política de poder dominar um país ou um espaço.
EC – Teus personagens são os excluídos. Ao mesmo tempo, vens de uma família de posses, que ganhou muito dinheiro com a construção da ponte de Jaguarão. Há uma ruptura com a tua formação aristocrática.
Schlee – Foi consciência profissional.Trabalhei em três jornais de Pelotas, onde cheguei em 1950, recém-formado no ginásio de Jaguarão. Meu pai ficou desempregado e tinha que ajudar em casa. Quando fui passear no Rio em função da premiação da camiseta da seleção, passo o ano todo lá onde tive várias chances, algumas postas fora.Tive a primeira chance no Correio da Manhã. Um estágio na área gráfica e artística. Vinha a fotografia e eu copiava autoridades: os principais artistas do rádio, grandes escritores brasileiros ou internacionais, jogadores de futebol. No meu desenho usava todas as técnicas, canetas, água, tinta, aquarela, nanquin, pincel, só preto e branco. Aprendi muito. Tinha carteira de estagiário e frequentava a Associação Brasileira de Imprensa e lá conheci muito gente. Foi muito enriquecedor e me permitiu conhecer em conversas informais, fora da redação, no dia a dia, como se fazia jornalismo a sério. O secretário de redação de O Globo, Osmar Flores, me convidou pra desenhar no jornal. Quando souberam que eu trabalhava pro concorrente, fui demitido do Correio da Manhã. Na redação tinha o aquário (sala separada com um vidro) onde ficavam o Otto Lara Resende, Otto Maria Carpeaux, Antônio Callado, que me chamou para eu confirmar que estava desenhando no Globo. Me disse: irresponsável. E me demitiu. Foi um ano difícil, meu pai e meu padrinho garantiram o mínimo para mim, mas aprendi muito e foi muito rico.
EC ‒ Tua primeira experiência artística é o desenho. Na ficção, também desenhas os personagens?
Schlee ‒ Eu desenho os personagens, a cidade, faço mapas. Pego duas ou três brochuras diferentes, cola plástica, desenho o espaço e faço subir esse material, montanha, matas, estradas, lugares, casas. Tenho várias maquetes de Jaguarão em 1980, 1910, 1950. O Erico (Verissimo) fazia isso. No livro Limites do Impossível eu desenhei cada uma das personagens a partir de uma figura. Às vezes, diluo a descrição em toda a história, às vezes um traço num parágrafo, depende do personagem. Não é regra, mas acho que um traço segura o personagem para que na ação ele corresponda àquela imagem.
EC ‒ No jornalismo, trabalhaste no desenho e depois na escrita?
Schlee ‒ Também na escrita.Tive consciência do que era fazer jornal. Trabalhei no Diário Carioca com o Nelson Rodrigues – que era muito pão duro, sempre brabo e fumando, e o Millôr, com quem aprendi muitas coisas, como diagramação. Foi como diagramador que o Guevara (diagramador argentino) me indicou pro Samuel Wainer e vim fazer a Última Hora em Porto Alegre. Briguei com o Samuel e tive que sair. Eu fui o culpado, era um bobalhão, besta, querendo fazer o jornal dele. Fiz concurso para a UFPel (foi professor de Direito Internacional por 30 anos e também pró-reitor de Extensão e Cultura.) A Zero Hora só conseguiu destruir totalmente meu projeto da Última Hora na metade do ano passado. Acordei, vi o jornal e disse pra Marlene: acabou meu projeto. Em Pelotas escrevi para o Diário Popular, onde fiz uma reportagem-livro sobre a existência de xisto betuminoso no RS, em São Gabriel. Ganhei o Prêmio Esso. Também assumi a secretaria de redação do jornal onde tinha começado a desenhar, o vespertino Opinião Pública, que acabou e ficou o Diário Popular, onde passei a escrever diariamente uma coluna. E ainda no sábado, eu e o Carlos Alberto Chiarelli escrevíamos um programa de rádio de 1 hora. Vi que estava com predisposição muito grande de fantasiar, de apresentar ficcionalmente a memória. Foi daí, do jornalismo, que veio minha atividade literária. Escrevi meus primeiros livros, tinha uns 26 anos. Para o jornalista não basta vencer o tempo, mas ter tempo e dispor dele. Houve uma mudança técnica no meu fazer. Estava acostumado a escrever crônica em 5 minutos. Terminava aquilo e tava corrigida. Na ficção, era diferente: a Marlene pegava meus originais e ia fazendo mudanças. Sempre foi ela e nunca ninguém mais se meteu. É a melhor crítica do meu trabalho. Sou contista, romance é um acidente.
EC – Mas escreveste há pouco o romance Don Frutos, quase um épico.
Schlee ‒ Don Frutos veio ao longo de inquietações minhas com o imperialismo português no Uruguai. Escrevi três ou quatro contos baseados nos documentos que eu tinha: Don Sejanes, Como uma parábola e A Viúva de Quinteros. Um castelhano amigo meu, ex-tupamaro, filho de um estancieiro muito rico, começou a buscar material, descobriu coisas raras, dos dois lados – tanto os que consideravam o Rivera bandido, os blancos ou os que o consideravam fundador da pátria, que são os colorados. Conseguiu xerox das cartas entre Rivera e Bernardina. Rivera era pré-silábico, não tinha domínio dasilabação, mas aprendi a ler o que ele escrevia na letra dele.
EC ‒ Tem a construção documental e tem a tua elaboração. No final, qual foi a tua construção de Rivera?
Schlee ‒ Quando terminei o livro me encantei com a relação casual entre o personagem secundário, o tenente Onetti, e o grande escritor Onetti, que era avô dele. Aquelas palavras que o tenente Onetti diz, peguei-as do poeta Onetti, botei na boca do personagem e encaixou. Foi demais. Fiquei muito preocupado com o aspecto plástico do texto e com Rivera ‒ mas recriando uma imagem que ninguém tinha admitido, ou seja, nem os defensores nem os detratores. Uma boa parte do texto se passa na cabeça do Rivera. Utilizei o verbo de maneira que o leitor não saiba distinguir se ele estava contando ou se sou eu. Construí é uma figura ficcional, muito mais minha do que do Uruguai.
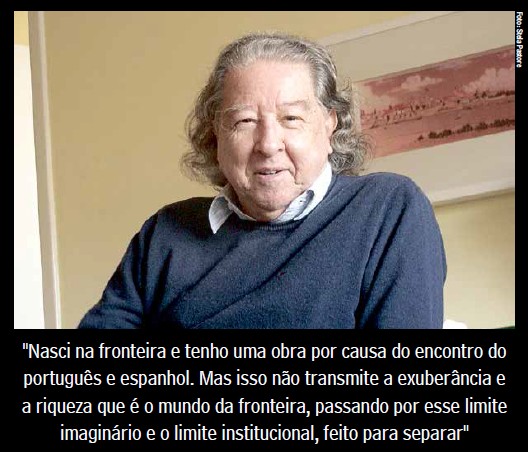
Foto: Stela Pastore
Foto: Stela Pastore
EC ‒ As peculiaridades fronteiriças, a riqueza cultural de quem vive na região binacional, boa parte do Rio Grande desconhece ou não reconhece isso. Como trabalhas com essa cultura?
Schlee ‒ A mais forte razão para que se desconheça isso no RS é o gentílico “gaúcho”. Que tem uma determinação física que é o pampa, e de uma decorrência cultural e econômica que é a atividade rural, que é a criação extensiva de gado. E isso fez com que se confundisse essa figura com qualquer pessoa nascida do RS. Com isso, a denominação
gaúcho foi esvaziada do seu sentido importante e original.Essa figura está é na fronteira, onde tem essa expressão chamada “fronteiriço”. Quando se usa “espaço fronteiriço” está-se mais perto do verdadeiro significado que se quer dar a essa palavra fronteiriço. O espaço da fronteira. O homem da fronteira ainda é aquele que guarda a imagem do
gaúcho verdadeiro, que não precisa estar na roupa e não precisa estar no hábito de tomar chimarrão. Uma vez fiz uma palestra (na Paraíba) e disse que a terra do gaúcho é o sul do Rio Grande do Sul, o Uruguai todo e a província de Buenos Aires. O único país só gaúcho é o Uruguai.
EC ‒ Tens também uma grande identidade com o Uruguai.
Schlee ‒ Nasci na fronteira e tenho uma obra por causa do encontro do português e espanhol. Mas isso não transmite a exuberância e a riqueza que é o mundo da fronteira, passando por esse limite imaginário e o limite institucional, feito para separar. Na fronteira temos duas cidades em termos de integração. Livramento que é uma terra só mesmo, gêmea da outra (Rivera, no Uruguai), onde se desenvolveu quase uma língua comum. A outra, separada pelo rio e pela ponte, Jaguarão, onde a utilização de um idioma comum não se deu. A gente aprendeu desde criança todos os americanismos do espanhol utilizando-os em português, com essas inflexões. Por isso, precisei construir um idioma próprio. O meu português é cheio dessas expressões em espanhol, mas o que escrevo não é o que preciso falar com quem vive no lado uruguaio da fronteira com Jaguarão.
EC ‒ Usas a ponte Mauá, entre Jaguarão e Rio Branco, quase como um personagem.
Schlee ‒ É nome próprio. Ao mesmo tempo, essa visão do personagem e também de toda minha visão de mundo que trabalha com a mudança permanente, que é água do rio, que está na origem da filosofia.
EC ‒ No futebol te declaras torcedor da Celeste (seleção uruguaia), uma das tuas paixões. E criaste a camiseta da seleção brasileira.
Schlee ‒ Ganhei o concurso para a camiseta da CBF em 1953. Tinha 19 anos e parte do prêmio era conviver com a seleção brasileira na concentração por uma semana, em São Januário, em 1954. Houve muita safadeza, garçons ofereciam primas e amigas para sestearam conosco. Tinha uma mansão de um empresário, numa semana aconteceram muitas coisas. Fiquei muito decepcionado. Hoje essa camiseta da seleção é usada pelos detratores do governo, contra a Dilma e pelo impeachment, com o moralismo mais barato que se pode imaginar. Hoje a CBF é o símbolo da corrupção, da miséria, da pobreza e da situação que foi colocado miseravelmente o futebol brasileiro. Tenho torcido contra a seleção brasileira, um desgosto tão grande com tudo da seleção. A começar com minha experiência com ela em 54. A camisa hoje está completamente desmoralizada. Não tem nada mais a ver comigo. Um jornalista escocês escreveu um livro sobre a camisa e me disse que eu tinha criado um símbolo nacional que concorria com a própria bandeira. Dentro de uma perspectiva que não é a minha, do endeusamento.
EC ‒ Como foi quando viste O Banheiro do Papa no cinema?
Schlee ‒ Chorei muito de emoção. Houve muita polêmica no Uruguai. O El País explorou muito isso. Botou o conto e disse que tinham pirateado e não tinham dado crédito.
EC ‒ Adaptaram o roteiro sem te consultar?
Schlee ‒ Eu disse pro editor que estava muito feliz porque alguém teve a mesma sensibilidade e fez uma livre adaptação, mas ele estava muito desgostoso. Disse ao pessoal que fez o filme e que estava muito bem assim. Não pretendo ganhar dinheiro com isso.
EC ‒ E os novos trabalhos?
Schlee ‒ Tenho um livro sendo lançado Fitas de cinema, contos em cima de filmes inesquecíveis que vi e narro. E o outro nada tem a ver com ficção. É um dicionário da cultura pampeana sul-rio-grandense. Todos os verbetes já estão colocados. Tem todas as informações sobre todo o tipo de vegetação e de animais. Plantas medicinais, medicina campeira, aves. Tem divergências e muitas palavras não dicionarizadas. Deve dar umas 900 páginas.











