
Fotos: Marcelo Camargo ABr e Acervo pessoal, Instituto Vladmir Herzog
Fotos: Marcelo Camargo ABr e Acervo pessoal, Instituto Vladmir Herzog
Após quase quatro décadas de busca por justiça e reparação, a família de Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar em 25 de outubro de 1975, conseguiu derrubar a mentira oficial sustentada pelos governos militares de que o jornalista, de 38 anos, teria se suicidado. Em março de 2013, a viúva, Clarice Herzog, e os filhos Ivo e André receberam a certidão de óbito corrigida com a verdadeira causa da morte do pai: lesões e maus-tratos sofridos durante interrogatório no Destacamento de Operações de Informações (DOI), departamento do Centro de Operações de Defesa Interna, (Codi), órgão subordinado à Segunda Divisão de Exército, em São Paulo. Era o início de uma nova batalha para que o crime seja investigado e punido. No início de julho deste ano, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH), órgão jurisdicional composto por sete juízes nacionais de estados-membros da OEA, condenou o Estado brasileiro pela violação ao direito de conhecer a verdade sobre o assassinato do jornalista, determinou a abertura de investigações e uma retratação pública sobre o caso, e declarou o crime como imprescritível. A decisão levou o Ministério Público de São Paulo a reabrir as investigações no dia 30. “A sentença abre uma porta de esperança para que o governo brasileiro haja com dignidade e nos permita ter a versão oficial sobre o que aconteceu com nossos parentes”, afirma nesta entrevista ao Extra Classe o engenheiro Ivo Herzog, filho do jornalista, e conselheiro do Instituto Vladimir Herzog
Extra Classe – Como o senhor e a família recebem essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o que ela representa após todos esses anos?
Ivo Herzog – O processo da própria Corte vinha já há quase nove anos, porque o Tribunal tem um rito bastante extenso e até certo ponto moroso. Estávamos muito ansiosos, pois sabíamos que a Corte tinha definido uma sentença já há alguns meses, que ainda não era pública. Pelo histórico das Cortes no Caso Araguaia e em outras decisões sobre casos de crimes da ditadura, a gente estava muito otimista que o desfecho seria favorável a uma investigação para apontar os culpados pela morte do meu pai e para virar a página dessa história. Com certeza, na hora em que saiu a sentença e confirmou nossas expectativas, trouxe muita alegria.
EC – Qual o alcance da sentença em termos de reparação?
Herzog – Existe um grande empecilho na busca de justiça e de reparação que é a Lei da Anistia, que embasa uma série de encaminhamentos que o Judiciário brasileiro vem dando para as vítimas daquele período, não deixando que a gente investigue, que a gente descubra e tenha uma versão oficial sobre o que aconteceu com os nossos parentes. Meu pai é só um deles. Essa sentença torna absolutamente público que o entendimento da comunidade internacional à qual o Brasil é signatário é de que esse tipo de crime é imprescritível e tem que ser investigado, a verdade tem que ser colocada e as pessoas responsáveis têm que ser levadas à justiça. Então tem uma Corte, uma das mais altas Cortes com o pensamento alinhado com as outras famílias e abre uma porta de esperança para que o governo brasileiro haja com dignidade e nos permita ter a versão oficial sobre o que aconteceu com nossos parentes.
EC – Como acreditar que aqueles que governam o país hoje numa linha de retrocessos possam cumprir tratados internacionais para investigar o período de exceção?
Herzog – Não vou fazer julgamento sobre esse ponto. A jurisprudência é muito nova, tem 30 anos, e as coisas estão mudando. O olho jurídico e a demanda da sociedade por esse olhar vêm evoluindo em uma direção boa e de uma maneira rápida. Os ministros do Supremo já embasam seus argumentos para decisões a partir da convenção da Organização dos Estados Americanos (OEA). Eles usam tratados internacionais como referência para as decisões. Eu prefiro acreditar que o país está em um nível de soberania que vai ser dentro do cenário nacional uma nação e não um bando de gente.
EC – A CorteIDH identifica o caso Herzog como um dos “crimes cometidos em um contexto sistemático e generalizado de ataques à população civil”. Tem relação com o contexto atual?
Herzog – Na realidade você traz uma dimensão que eu costumo abordar muito: o caso Herzog não é um caso sobre o passado, é um caso sobre o presente, porque existe um processo de impunidade dos crimes de Estado contra a população. Eu, por exemplo, eu faço parte da ouvidoria das polícias do estado de São Paulo. Aqui no estado a Polícia Militar no ano passado matou mais de 900 pessoas, na maioria jovens, negros, da periferia. Esses crimes não vão a julgamento. Não vão a julgamento de maneira sistemática, não vão a julgamento agora, não iam na época da ditadura, nem do Estado Novo, nem da escravidão ou da alienação dos povos indígenas. E o resultado desse processo de impunidade, de colocar o Estado acima da lei é uma forte cultura de violência colocada no Brasil. A gente ainda vive em regiões privilegiadas que são muito violentas, mas não se comparam por exemplo com a violência no campo. E casos que a gente não sabe, que não se tornam célebres.
EC – Por exemplo?
Herzog – A gente tem informes de regiões do Brasil onde há cidades em que 100% das jovens de 12 anos ou mais já foram violentadas. Dezenas ou centenas de cidades em que existe a tradição das mães levarem suas filhas para servirem aos políticos em troca de dinheiro. Isso faz parte do mesmo país em que eu e você vivemos. Tudo tem um elemento comum, que é uma cultura de violência, em que as pessoas se dão o direito de responder com violência às suas inquietações porque existe uma impunidade, existe um olhar cúmplice do Estado às ações de violência.
EC – Como explicar a violência policial, a morte e o encarceramento de jovens, os 40% da população carcerária sem julgamento?
Herzog – Eu acho que não existe segurança pública no Brasil. A Polícia Militar não tem na sua vocação a segurança pública, mas a proteção ao Estado e aí de repente eu e você viramos o inimigo do Estado a ser eliminado pela Polícia Militar. É por isso que se mata tanto. O Código Penal é deficitário, o agente público da segurança, o policial, é deficitário, a Polícia Civil que deveria investigar está sendo sucateada em todo o Brasil. Tem o sistema judiciário em que os processos se tornam morosos e acontece um pouco do que você falou que tem mais de um terço da população presa que ainda não foi a julgamento e outro terço que a sentença já prescreveu e o processo está parado.
EC – Qual a diferença entre os crimes da ditadura e aqueles cometidos pelo Estado na atualidade, os “crimes comuns”?
Herzog – Um crime que o Estado comete contra o cidadão nunca é muito comum, porque o Estado está aí para proteger o cidadão e quando esse Estado se volta contra esse cidadão e nega seus direitos, isso é de uma gravidade enorme. A gente não tem uma linha clara que mostre que os crimes que a ditadura fez são mais graves do que o Estado está fazendo hoje. Ainda existem operações “secretas” feitas pelo Estado. Pegando o exemplo do Amarildo, aquela detenção tem indícios de que ele foi torturado, estava desaparecido. Se você não citar nomes, nem datas e só descrever os fatos fica difícil saber se se trata de um caso ocorrido na ditadura ou depois. Os procedimentos são muito semelhantes, a forma como as coisas foram feitas.
EC – Os métodos são os mesmos?
Herzog – Porque a polícia é a mesma, inclusive.
EC – O comunista, o pobre, o cidadão. Quem é o inimigo do Estado hoje?
Herzog – Na realidade não era o comunista, né? O anticomunismo era um chavão que se aplicava, mas o inimigo era quem pensava diferente do governo colocado no momento. Há dezenas de pessoas que foram presas que não eram comunistas, eram outras coisas, eram de esquerda. Teve militares que foram presos também. A ordem era mais ou menos a seguinte: “a gente não tem a capacidade de dialogar, se você pensa diferente da gente, você vai ser excluído”. E essas pessoas foram exiladas, presas, torturadas, mortas etc.
EC – Nesse sentido, o caso do seu pai é exemplar. Ele era jornalista, diretor de jornalismo da TV Cultura, se apresentou de forma voluntária para depor no DOI Codi. Era filiado ao PCB, não tinha perfil de “subversivo”, mas pensava diferente…
Herzog – Isso mesmo. E a proposta do partido na época não tinha nada a ver com instituir uma União Soviética no Brasil. Era mais uma questão de uma articulação organizada para se debater as questões existentes com uma perspectiva de liberdade e democracia.
EC – O senhor disse que a Lei da Anistia não deve ser revogada. Por quê?
Herzog – É uma questão de interpretação da Lei da Anistia. De entender o que ela quer dizer. Na última análise do STF (sobre o caso Herzog) foi usado o conceito de crime correlato para justificar que a Lei da Anistia tem que ser aplicada aos dois lados, aos agentes do Estado e aos cidadãos que foram perseguidos pela ditadura. Só que do ponto de vista jurídico, o conceito de crime correlato não tem nada a ver com o que aconteceu. O meu pai era contra o regime e com o trabalho dele fazia uma ação contra o Estado. Por isso foi preso, torturado e morto. Não tem correlação. O crime correlato é quando o cara que estava assaltando um banco mata alguém na fuga. Isto tem uma correlação com aquele ato do assalto. Mas a ação de ter torturado e assassinado as pessoas que se opunham ao regime não tem nenhuma correlação com o ato do protesto contra o regime. Não há um efeito colateral. Foi feita uma distorção grotesca de um conceito jurídico que tem um entendimento absolutamente diferente do que foi usado para se justificar a aplicação da Lei da Anistia nos dois lados.
EC – Em 1992, o Ministério Público de São Paulo pediu abertura de inquérito policial no caso Herzog, mas o Tribunal de Justiça considerou que a Lei da Anistia seria um obstáculo à investigação. É por isso que o senhor diz que é uma questão de interpretação?
Herzog – Exatamente. Agora, é fato notório que a maneira como ela é aplicada no Brasil é única no mundo. A Lei da Anistia é pra anistiar crimes políticos. Por exemplo, tinha uma ordem que você não podia protestar em praça pública, o cara foi, protestou, foi preso. A pessoa teve que sair do Brasil, porque o trabalho dela era considerado subversivo. É nessa dimensão. Quem cometeu assassinatos tem que ser julgado.
EC – A Corte também reconhece o direito das famílias e da sociedade de conhecer a verdade. Como o Estado deve cumprir essa determinação?
Herzog – O que a Corte enxerga sempre é que o país tem que ter políticas de não repetição. Então tem que mostrar que o pensamento do Estado mudou e ele tem que mostrar isso de maneira pública. A sentença fala em um ato público, de dimensão, mostrando o arrependimento, sei lá o quê. A construção dessa memória é importante, a gente vê isso em países que tiveram questões de violência muito graves aqui perto. Se você vai pro Chile tem o Museu da Memória, a Alemanha tem museus do holocausto espalhados por todos os lugares para que aquilo não volte a acontecer. Porque, se não for assim, vem esse capítulo complexo e depois se tenta fazer com que a população esqueça e aí passam uma, duas gerações, o pessoal começa a achar de novo que a resposta para os problemas é aquilo que foi feito no passado, por desconhecimento.
EC – Por que a família recusa indenização?
Herzog – A família recusa porque a indenização é uma forma de perder o foco. É fácil fazer um cheque. Ainda mais quando o dinheiro não é seu.
EC – O senhor mencionou a Argentina, o Chile. Como está a investigação dos crimes da ditadura no Brasil?
Herzog – Está parada. A própria Comissão Nacional da Verdade tem um papel bastante limitado, ela trouxe avanços, mas é muito limitada porque os militares se recusam a liberar documentos. Quando você vai aprofundar uma investigação, chamam a Lei da Anistia. E outra coisa, a Lei da Anistia não diz que não pode investigar, diz que não pode condenar. Primeiro, investigar se o cara é culpado ou inocente, em tese, deveria ser bom para inocentar se for o caso. Quando você não quer nem que investigue, já está assumindo a culpa.
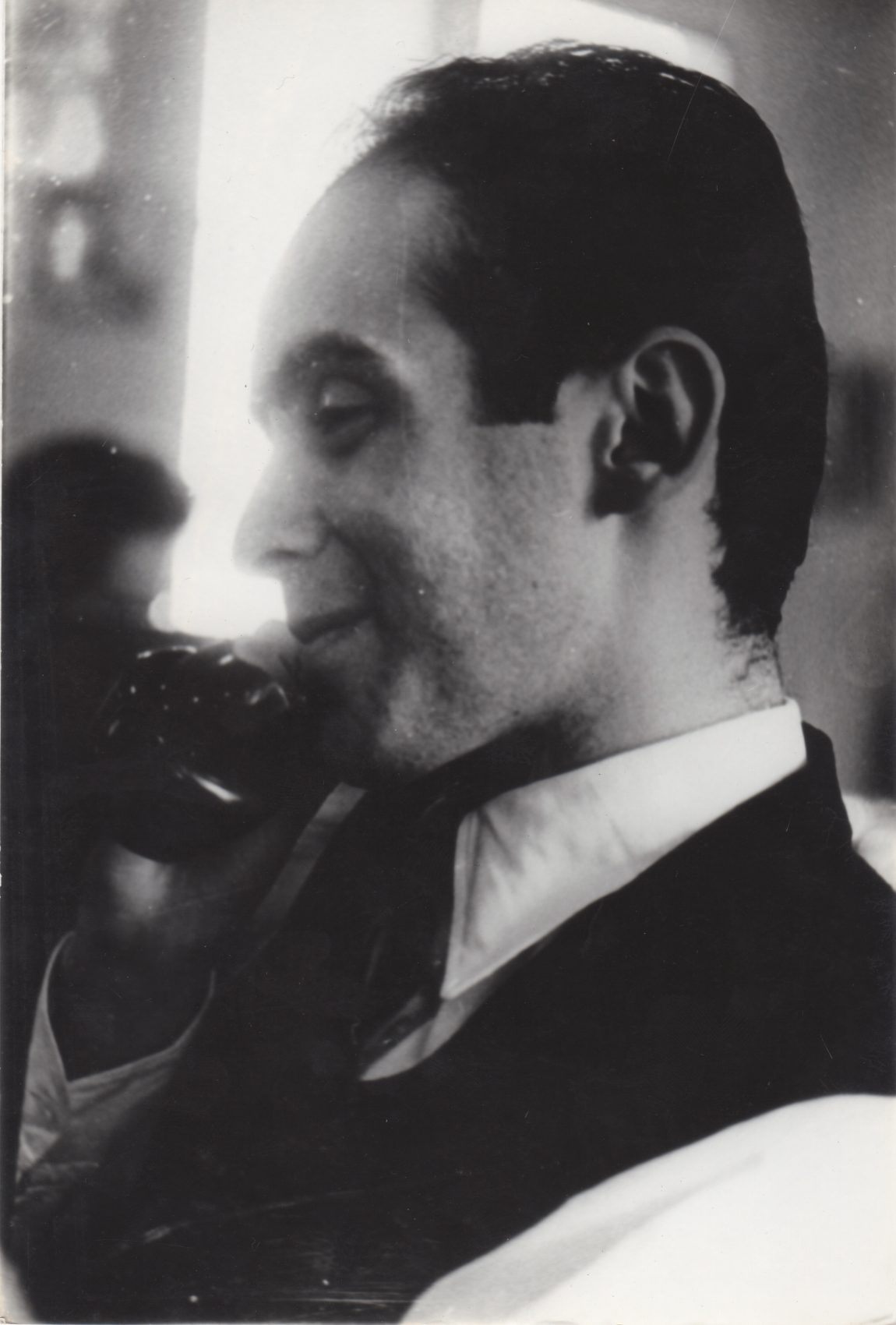
Foto: acervo Insitituto Vladmir Herzog
A Comissão da Verdade tem um papel limitado, trouxe avanços, mas é limitada, porque os militares se recusam a liberar documentos
Foto: acervo Insitituto Vladmir Herzog
EC – A recente revelação do Departamento de Estado dos EUA sobre o protagonismo do general Ernesto Geisel na execução de “subversivos” pelo regime altera a narrativa oficial sobre a ditadura?
Herzog – Com certeza. Só que existe uma lenda urbana sobre o Geisel ser o cara da abertura. Eu acho que existia uma guerra de informações, diziam que eram os aloprados, os porões da ditadura, e de repente a gente vê que não é isso, eram os palácios da ditadura, essa questão vinha lá de cima, dos mais altos comandos. Então é mais um ponto de uma informação muito recente que a gente tem que aprofundar e conhecer melhor.
EC – Qual a sua opinião sobre o atual contexto do país, em que autoridades de Estado e candidatos manifestam simpatia por torturadores da ditadura e incitam o crime de tortura?
Herzog – É de tristeza, né? A gente está aí nessa batalha há mais de 40 anos e ainda tem que tratar dessas questões básicas. Dá um certo cansaço, uma tristeza você ter que ficar tratando de questões que deveriam estar superadas e de repente constatamos que não estão, porque não se tem essa narrativa, não se permite essa narrativa.
EC – Qual narrativa?
Herzog – O Estado comete um crime. Qual política impede que não se cometa no presente esse crime do passado? Você faz políticas públicas para evitar repetição, que passam pela construção de memoriais, pela garantia de mecanismos para que os fatos estejam nos livros de história.
EC – Mas quem faz apologia à tortura e pede intervenção militar tem simpatizantes e votos…
Herzog – O país tem uma população de grande diversidade de pensamentos e demandas. Sempre vai ter gente de extrema-direita. E ele, de repente, é o único candidato que está dando respostas objetivas pra essas demandas. Vai até o limite do absurdo, do grotesco, mas tem ouvintes, e o resto, os outros 85% da população que não pensam assim não encontraram ainda candidatos que deem respostas objetivas para suas demandas. Os políticos se preocupam demais em não se indisporem com esse ou aquele grupo, então, têm dificuldades em responder objetivamente se são a favor ou contra coisas que são bem específicas, querem agradar todo mundo. Tudo bem, não querem agradar o cara de extrema-direita, não vão falar em volta da ditadura, mas têm dificuldade de falar qual o seu posicionamento sobre a Reforma da Previdência, a Reforma Trabalhista, no máximo se posiciona contra ou a favor, mas não entra no detalhe, não trabalha a questão num nível que a gente precisa para atender os nossos anseios como população. Então tem 15% que encontra um candidato e vota nele, e tem 85% esperando o que vai acontecer.
Not available
Not available
EC – O Brasil é signatário da CorteIDH, mas vive um contexto político de exceção, antidemocrático. Por isso e pelo comportamento do Itamaraty em relação a esse processo até agora, como o senhor espera que o Estado brasileiro investigue e puna os crimes da ditadura?
Herzog – O Itamaraty até o momento é o único órgão de Estado que fez um pronunciamento e fez um pronunciamento muito positivo, afirmando que respeita a sentença, essa coisa toda né? Em tese, deu uma resposta boa. Claro que faltam mais elementos para uma resposta do governo brasileiro à altura do que essa sentença representa para a sociedade. Agora, o que aconteceu com meu pai e com outras pessoas aconteceu ao longo dos últimos 50, 60 anos. Eu não tenho uma opinião pelo contexto atual sobre uma coisa que transcende seis décadas, duas gerações de pessoas. É muito maior do que o contexto político atual do Brasil. A defesa que a gente faz é que tem uma série de questões político-sociais que impactam a sociedade e que estão mal-resolvidas. As pessoas falam que tem que virar a página dessa história. Eu acho que tem que virar essa página, mas a gente precisa escrever essa página para que os erros do passado não se repitam. Você vê por exemplo ondas de pessoas pedindo a volta da ditadura, na minha opinião as pessoas pedem isso por pura ignorância, porque não sabem o que foi uma ditadura, né? Não entendem qual era o contexto de uma ditadura, qual era o impacto na vida dele, cidadão, do ponto de vista de nem poder manifestar um desejo de mudança de status quo. Ele já seria um subversivo, poderia ser preso, torturado e tudo o mais. A sentença e a luta dos familiares ao longo desses anos é para que essa história seja contada oficialmente pelo Estado, porque a sociedade civil já contou essa história. A gente sabe o que aconteceu com meu pai, a gente sabe o que aconteceu com o Marighella, com o Rubens Paiva, com o Alexandre Vannucchi e tantos outros. Mas precisa ter essa história oficial completa. Qual era a linha de comando? Essa sentença é muito maior que o momento político atual.
EC – Qual a sua avaliação sobre o contexto do país pós-golpe e o comportamento do Judiciário?
Herzog – Eu não gosto de misturar os assuntos, porque são agendas completamente independentes. Ser a favor de uma coisa não é concordar com a outra agenda que não tem nada a ver. Eu fui contra o impeachment (da ex-presidente Dilma Rousseff), publicamente, meu nome saiu num manifesto público. Fui contra, porque ela foi eleita e se não estava fazendo um bom governo é agora nas eleições que você muda e não interrompendo o mandato. O presidente de uma República não é um presidente de uma empresa privada que se não está performando você vai e manda ele embora. Foi eleito pelo voto. Você vai ter que respeitar esse voto. Vamos construindo uma narrativa de crítica ao longo do mandato e ao final decidimos se mantém ou troca. A questão do presidente Lula eu também não vou entrar no mérito se ele cometeu ou não cometeu crime. O que é claro pra mim é que tem um rito do poder Judiciário totalmente exclusivo e existe uma agenda eleitoral que está ditando os processos do Judiciário. É um absurdo. Você não pode acelerar ou desacelerar um processo jurídico em função de uma outra agenda, de uma outra dimensão, de uma outra competência. Isso está acontecendo com o Lula. Nesse processo todo do Lula, da própria Lava Jato, que considero muito importante pelo combate à corrupção que vem corroendo o país numa dimensão absurda, acho que o Judiciário está saindo mais enfraquecido do que entrou.
EC – Por quê?
Herzog – O que aconteceu no início de julho (refere-se à intervenção do juiz de primeira instância, Sérgio Moro, que estava de férias e da anulação do habeas corpus concedido a Lula pelo desembargador Rogério Favreto, do TRF4) foi um momento bizarro, uma coisa muito triste pra gente como nação soberana, em que um juiz que não faz mais parte do processo interfere. Parece que o país virou faroeste. A gente está vivendo um momento muito complicado, existe uma insegurança jurídica muito grande e se vê isso impactando não simplesmente na sociedade, no indivíduo, mas na esfera econômica. Empresas multinacionais que tinham programas de apoio cultural no Brasil, no último ano suspenderam tudo por conta dessa insegurança jurídica.
EC – É normal essa exposição do Judiciário à mídia?
Herzog – Tem uma espetacularização da Justiça que é absolutamente desnecessária. O cara pode fazer o que quiser enquanto cidadão, exercitar a sua liberdade de expressão, mas se ele escolheu ser juiz não tem que sair por aí dando depoimentos. Como juiz ele tem que se distanciar do público, senão, como é que você garante a isenção? E a gente vê essa coisa agora dos juízes virarem celebridades. É absolutamente inadequado. Não é só a minha opinião, é uma questão de embasamento teórico-filosófico, de você ver como funciona em outros países, em que os juízes não se expõem dessa maneira.
EC – Se os métodos empregados atualmente pelas polícias são muito semelhantes à perseguição e tortura praticados pelas forças de opressão durante o regime militar, até porque, como o senhor afirmou, a polícia é a mesma, com formação e orientação militar, não seria o caso de extinguir a PM?
Herzog – Eu não acho que a Polícia Militar de São Paulo tem que ser extinta. Acho que a colocação é: quem deve ser responsável pela segurança pública? Eu acho que não deve ser a PM. Ela tem que ter uma outra atribuição mais definida. No mundo todo são poucos os países que têm militares responsáveis pela segurança pública e, do ponto de vista histórico, na época do Império Romano quando os militares voltavam das suas batalhas eram proibidos de entrar nas cidades para comemorar, porque dentro da cidade não há função para o militar. Seu papel é proteger as cidades dos seus invasores, proteger as nações dos seus inimigos. E dentro das cidades não existem esses inimigos, existe a população civil.











