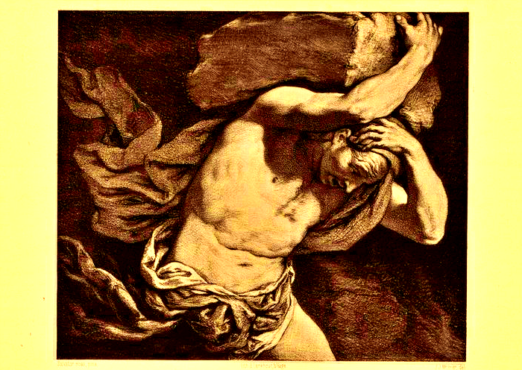Poder Global e nação: o debate conservador
Foi no início da década de 1970, e sob o signo da “crise da hegemonia americana”, que o economista Charles Kindelberg formulou a tese central da “teoria da estabilidade hegemônica”: “para que uma economia mundial liberal funcione de forma eficaz, é necessário que exista um país, e só um país, que cumpra o papel de estabilizador do sistema”. Um país que assuma a responsabilidade pelo fornecimento de alguns “bens públicos” indispensáveis a uma economia liberal, como seria o caso de uma moeda internacional, da garantia do livre-comércio e da coordenação global das políticas econômicas dos estados nacionais.
Quase na mesma época, Robert Gilpin, cientista político também norte-americano, chegou à mesma conclusão. Ele dizia que “na ausência de uma potência liberal dominante, a cooperação econômica internacional fica extremamente difícil de ser alcançada ou mantida”. Kindelberger falou inicialmente na necessidade de uma “liderança” ou “primazia”, mas depois Gilpin e um número cada vez maior de autores passou a utilizar o conceito de “hegemonia mundial”.
A tese da necessidade de um poder supranacional não era nova, já havia sido formulada pelo inglês Edward Carr, na década de 1930, e depois foi retomada pelo francês Raymond Aron, na década de 1950. Edward Carr não era um conservador, mas um realista que teve suas ideias durante a “era da tragédia”, entre as duas grandes guerras mundiais, e concluiu que “a condição essencial de uma legislação internacional é a existência de um superestado mundial”.
Duas décadas depois, Raymond Aron concluiria, de forma ainda mais radical, que “a humanidade não terá paz enquanto não tiver se unido num Estado Universal”. Os dois estavam discutindo o problema da guerra e da paz, e não o funcionamento liberal da economia mundial, como no caso de Kindelberger e Gilpin, mas todos eles se consideravam realistas e defendiam a necessidade de um poder estatal supranacional, para que pudesse existir uma ordem mundial estável no campo da economia, como no campo da guerra e da paz.
Neste debate, os “pluralistas” ou “liberais”, como Joseph Nye e Robert Keohane, tinham uma visão diferente a respeito da natureza e funcionamento deste poder supranacional. Seu diagnóstico histórico e suas propostas apontavam na direção de um poder e uma legislação legitimados coletivamente e independentes de qualquer estado nacional em particular. Estavam convencidos da perda de importância dos estados e defendiam a possibilidade de uma ordem política e econômica mundial, regulada apenas por um sistema de “regimes supranacionais” aceitos e geridos de forma coletiva ou multilateral.
Como diziam Nye e Keohane, em 1977, este sistema se consistiria numa “verdadeira rede de regras, normas e procedimentos, que regulariam os comportamentos coletivos e controlariam seus efeitos – mesmo na ausência de uma potência hegemônica – de maneira que seria extremamente difícil eliminá-los ou alterá-los radicalmente”.
Essa discussão ganhou vulto durante a crise econômica e política mundial dos anos 70. Mas, mesmo depois da reversão da crise, na década de 1980, a defesa de um poder supranacional – na forma de um superestado ou de um conjunto de “regimes” – transformou-se no denominador comum de uma vasta literatura acadêmica e de um debate político internacional que segue em nossos dias, em torno da novas doutrina estratégica unilateral e “preventiva” do governo Bush.
Nos últimos anos, esta polêmica adquiriu uma conotação mais ideológica e emocional do que científica, e muito mais normativa do que histórica, contribuindo muito pouco para o avanço teórico das teses originárias. Se esse for o objetivo, entretanto, seria necessário retomar o difícil caminho da pesquisa e da contraprova factual, porque só se consegue identificar dois momentos na história do sistema internacional em que existiu, de fato, um país com liderança mundial indiscutível: o período da hegemonia inglesa, durante a maior parte do século XIX, e o período da hegemonia norte-americana, depois da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, entre 1945 e 1973.
Além disso, nesses dois “momentos” da história, Inglaterra e Estados Unidos enfrentaram situações distintas e geriram seu poder global de maneira muito diferente. A Inglaterra construiu um império colonial que foi decisivo para a reprodução do seu poder econômico e militar, e sua hegemonia não se apoiou em nenhum tipo de regime ou governança coletiva; pelo contrário, sua coordenação com as outras grandes potências foi uma obra simultânea do seu poder e de sua fragilidade econômica, muito mais do que de sua política externa.
Sua condição insular e sua economia extremamente dependente do comércio exterior pesaram muito mais do que sua vontade política, e o próprio sistema monetário internacional baseado na Libra, o chamado “padrão-ouro”, foi se expandindo por adesão econômica e individual dos demais países, sem que jamais tivesse havido nenhum tipo de pactuação, ou acordo coletivo, entre os “sócios” do sistema.
Os Estados Unidos, ao contrário, depois da Segunda Guerra Mundial, não recorreram à colonização direta dos povos periféricos e tentaram organizar sua hegemonia com base numa arquitetura institucional que lembra muito o modelo idealizado pelos “pluralistas”: uma hegemonia benevolente e sustentada num conjunto de regimes e instituições multilaterais. Mas não se pode esquecer de que a montagem desse sistema ocorreu de forma paralela com a implantação do poder militar americano, através de todo o mundo, sob os auspícios da Guerra Fria. E, assim mesmo, o sistema entrou muito rapidamente em curto-circuito, já na década de 1970, capotando, definitivamente, no final do século XX.
Na hora da crise econômica e militar de 1973, o primeiro movimento dos Estados Unidos foi o de abandonar o sistema monetário que havia proposto e aprovado em Bretton Woods. Isto é, o primeiro a se descomprometer do regime supranacional responsável pela governança da “moeda internacional” foi o próprio líder ou hegemon, defendido por Kindelberger e Gilpin. Mas com sua saída tampouco se realizou a previsão de Nye e Keohane, porque o regime não se sustentou sem o apoio do hegemon e ruiu imediatamente, dando lugar a um novo sistema monetário que não se baseava mais num “regime internacional”, mas no poder discricionário do Tesouro e do Banco Central dos Estados Unidos.
Mais à frente, depois de 1980, os Estados Unidos confirmaram e expandiram sua liderança econômica mundial e arbitraram isoladamente o sistema monetário internacional, promovendo a abertura e a desregulação das economias nacionais, o livre-comércio e a convergência das políticas macroeconômicas de quase todos os países capitalistas relevantes. Além disso, mantiveram e aumentaram seu poder no plano industrial, tecnológico, militar, financeiro e cultural.
Quase se poderia dizer que seguiram à risca a receita de Kindelberger e Gilpin, mas, apesar de tudo isso, o mundo viveu durante esse período uma grande instabilidade econômica e financeira, e a maior parte da economia internacional entrou num período de baixo crescimento prolongado, com a notável exceção dos próprios Estados Unidos e da China e mais alguns poucos países asiáticos, que entraram em crise um pouco mais à frente.
Na década de 1990, o sistema mundial aproximou-se novamente “tipo ideal” preconizado pelos realistas e, de alguma forma, também do modelo defendido pelos liberais. Mas a utopia durou pouco, porque o poder unipolar dos Estados Unidos não conseguiu estabilizar a economia mundial, nem muito menos promover o seu crescimento convergente.
Por outro lado, depois do fim da Guerra Fria, a incontrastável liderança político-militar americana, dentro do sistema político mundial, transformou os Estados Unidos numa espécie de superestado, como preconizavam Edward Carr e Raymond Aron. Contudo o que se viu, apesar disso, foi o aumento do número das guerras e uma acelerada regressão no campo da legislação internacional, ao contrário do que prognosticaram Carr e Aron. E agora, depois de 2000, o que estamos assistindo é a uma reversão da utopia dos 90 e o distanciamento cada vez maior do mundo, de qualquer coisa que se assemelhe a uma situação de hegemonia ou de governança mundial.
Que lições tirar deste confronto entre as idéias e os fatos históricos? Em primeiro lugar, nenhuma governança mundial nasceu do consenso ou da escolha coletiva, nem conseguiu se sustentar sem o aval do hegemon.
Em segundo lugar, a “legislação internacional” foi, quase sempre, a imposição pura e simples, ao resto do mundo, do modelo institucional e do direito dos países ganhadores e se manteve vigente apenas durante o tempo em que atendeu aos interesses desses ganhadores, que em geral são os primeiros a se desfazerem da própria legislação.
Por fim, toda hegemonia foi e será sempre uma posição transitória de poder, alcançada e mantida através da guerra, que se perpetua, por isso mesmo, também nos períodos em que o mundo esteve ou está sob a sólida liderança de uma única potência.