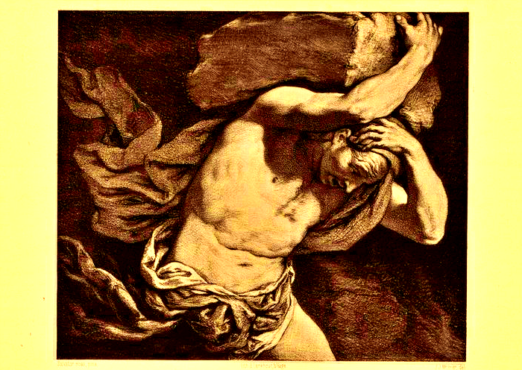Foto: Reprodução/YouTube
Foto: Reprodução/YouTube
Em determinadas tradições político-ideológicas, como o marxismo e o anarquismo, as polícias foram identificadas como estruturas a serviço da dominação. Nessa perspectiva, nunca foram pensadas, porque, finalmente, seriam dispensáveis.
Tal visão, ancorada no pressuposto idílico de uma sociedade futura sem Estado, sem classes sociais e sem conflitos criminais, partiu, não obstante, de elementos reais. Os estudos sobre a história das polícias modernas mostram que elas surgiram, claramente, pela necessidade de manutenção da ordem e não para o combate à criminalidade.
Ocorre que a gênese de um fenômeno não é o mesmo que sua ontologia. O “ser-da-polícia”, digamos assim, adquiriu outra dimensão nas sociedades contemporâneas quando o mandato policial passou a integrar o sistema de “aplicação da lei” (law enforcement). Se dependêssemos apenas da autorregulação da cidadania, nenhuma sociedade contemporânea, incluindo as mais igualitárias, seria capaz de assegurar o cumprimento de suas decisões.
As greves das polícias constituem, nesse particular, experiência natural que não deixa dúvidas. Uma greve de apenas 17 horas da polícia em Montreal, em 1969, fez a taxa de roubos aumentar 13,4% por hora e o número de assaltos a banco subir 50 vezes; na greve de 17 dias da Polícia Finlandesa, em 1976, os roubos em lojas aumentaram 50% e os atendimentos nos hospitais cresceram 42% e, no Brasil, durante a greve da PM de Minas Gerais, os crimes violentos aumentaram 120% e os assaltos cresceram 3,5 vezes.
Retomando a tipologia de Monjardet (2003), as polícias modernas nasceram como “polícias da ordem”, espelhadas no Exército e destinadas a combater “os inimigos” do Estado. Com o tempo, incorporaram novas atribuições, entre elas a investigação criminal. Por fim, foram definidas pela experiência democrática como “polícias urbanas” com a função de proteger as pessoas e garantir direitos.
No Brasil, ao contrário das democracias avançadas, não houve a transição das polícias da ordem para as polícias urbanas e sequer se cogitou de retirar as Forças Armadas da “Guerra Fria”, espécie de chocadeira ideológica em que os militares se encapsularam nos últimos 30 anos.
As lideranças políticas pós-ditadura escolheram, em um misto de cinismo e covardia, não apurar as responsabilidades pelos crimes contra a humanidade, aceitando uma anistia cuja função foi a de impedir que a verdade fosse conhecida. Por esse caminho, a democracia nunca foi apresentada às polícias, nem às FFAA (Forças Armadas).
As polícias brasileiras foram bolsonaristas “avant la lettre”, como o assinalou Luiz Eduardo Soares. Vale dizer: elas não foram “cooptadas” por Bolsonaro, apenas identificaram no discurso do capitão valores próprios firmados no contraste com a democracia e na valorização do policial como “caveira” (opção de vanguarda pela necropolítica, com sua decorrente escala moral de glamourização das armas e da violência).
Por óbvio que esses valores não são compartilhados por todos os policiais e que há uma nova geração de profissionais que resiste ao processo de naturalização da barbárie no qual práticas violentas se ampliam, notadamente no trato com os pobres e os negros. O fato é que tratamos aqui de um resultado muito previsível construído também pela omissão histórica dos que, pragmaticamente, se recusaram a enfrentar o problema.
Ao início de junho, o STF determinou que as polícias fluminenses não realizassem operações em favela durante a pandemia. A decisão, motivada por revoltante sequência de “mortes por engano”, fez com que, em um mês, a letalidade policial fosse reduzida em 74%. Nunca houve resultado tão expressivo. Em maio, as polícias do Rio haviam matado 129 pessoas; em junho, foram 34 mortes, uma redução que, assinale-se, não acarretou aumento da criminalidade.
O fato evidencia, também, que a conta pela violência policial não deve ser entregue apenas às polícias e aos governos. Para confirmá-lo, bastaria perguntar: quantos policiais respondem a processos por tortura no Brasil? Quantos estão presos por terem ferido, torturado ou matado ilegalmente? E quantas decisões judiciais de indenização às vítimas de violência policial já foram prolatadas?
Uma polícia sem controles interno e externo efetivos, que atue, no mais, em um deserto de políticas públicas, estará sempre mais próxima da violência, da corrupção e da ineficiência. Quando essas características se encontram com uma realidade política tensionada pelo ódio e com a garantia, oferecida “desde cima”, de que todo arbítrio se tornará paisagem, os riscos são muito maiores e podem envolver a formação de uma base operacional para uma alternativa fascista propriamente dita.
Marcos Rolim é jornalista, doutor em Sociologia. Escreve mensalmente para o jornal Extra Classe.