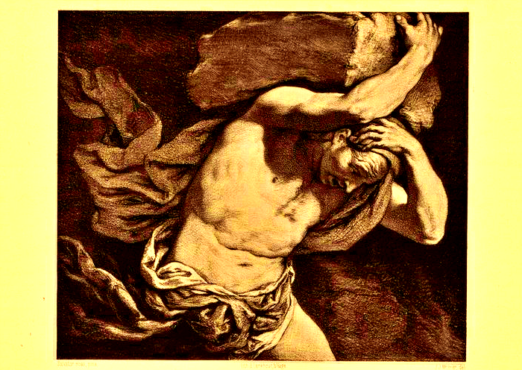Erros e desatinos estratégicos de uma potência que perdeu o prumo 

Foto: Twitter/ Reprodução
Há 20 anos, a invasão anglo-americana do Iraque, sem motivo legítimo nem aprovação da ONU, deixou 300 mil mortos iraquianos e registros das atrocidades na prisão de Abu Ghraib erros
Foto: Twitter/ Reprodução
No dia 18 de março de 2023 completam-se 20 anos da invasão anglo-americana do Iraque, que foi feita sem motivo legítimo nem aprovação do Conselho de Segurança da ONU, mas que deixou para trás 300 mil mortos iraquianos e os famosos registros fotográficos das atrocidades cometidas pelos norte-americanos na prisão de Abu Ghraib.
E assim mesmo, depois de derrotar e destruir o Iraque, os norte-americanos perderam o controle político do país para o Irã, seu principal competidor e adversário no Oriente Médio.
Depois, os Estados Unidos sofreram sucessivos reveses em suas invasões e “guerras sem fim” no Afeganistão, na Líbia, na Síria e no Iêmen, e em sua fracassada tentativa de isolamento e asfixia da economia iraniana.
Agora estão envolvidos em uma nova guerra, no território da Ucrânia, sem conseguir definir de forma clara quais são seus objetivos neste conflito, nem têm a menor possibilidade de alcançar uma vitória definitiva no campo de batalha sem passar por uma guerra direta com a maior potência atômica do planeta.
Ainda assim, há muitos analistas que avaliam que os Estados Unidos obtiveram uma vitória estratégica na Ucrânia ao eliminar arestas e estreitar seus laços militares com a União Europeia, com os “povos de língua inglesa” e com alguns aliados asiáticos tradicionais.
Não se tomou em conta, entretanto, que o “bloco” formado pelos EUA e seus satélites e protetorados militares sempre existiu, desde o fim da Segunda Guerra, e que nenhum desses países – a começar pela Alemanha, Itália e Japão – deixou de ser ocupado por bases americanas e transformado em “protetorado atômico” dos Estados Unidos.
Não se percebeu, também, que o aumento da convergência militar desses países, liderados pelo G7, vem se transformando na contraface do seu isolamento cada vez maior com relação ao resto do mundo eurasiano, africano e latino-americano.
Basta observar o apoio cada vez menor que esses países vêm obtendo na sua tentativa de cercar, isolar e asfixiar economicamente seus inimigos, notadamente o Irã, a Rússia, e mesmo a China, do ponto de vista da guerra comercial e tecnológica a que vem sendo submetida desde o governo de Donald Trump.
Não é de estranhar, portanto, o aumento da agressividade retórica, diplomática e ideológica dos EUA e de seus satélites, que vêm adotando uma postura cada vez mais militarista, mesmo sem avaliar as consequências últimas desta sua reação quase irracional à perda do poder global exercido nos últimos 300 anos.
Como se os países do “Atlântico Norte” e seus pequenos satélites asiáticos estivessem perdendo o rumo e o próprio sentido do absurdo de algumas de suas iniciativas absolutamente destemperadas e quase ridículas, do ponto de vista da sua disputa global.
A começar pela visita a Taiwan, a presidente do Congresso Americano, Nancy Pelosi, feita de forma absolutamente temperamental e juvenil, sem levar minimamente em conta suas consequências de médio e longo prazo, que acabaram consolidando e cristalizando a reivindicação e o poder da China sobre sua “ilha rebelde” criada com apoio militar americano, em 1946.
Desatinos
Depois, acumulam-se os discursos destemperados das autoridades americanas e europeias absolutamente “possuídas” por uma “fobia russa” semelhante a várias outras que já tiveram no passado, como se a Europa não conseguisse se manter unida sem a demonização de um inimigo externo, como já foram os islâmicos, os comunistas e os judeus.
Para não falar de episódios quase ridículos, como foi o caso delirante da “guerra dos balões” iniciada e logo encerrada por um governo Biden completamente desorientado.
Ou a “ordem de prisão” decretada contra o presidente da Rússia por uma instituição criada pelos europeus e inteiramente desmoralizada e deslegitimizada pelos próprios norte-americanos.
Ou ainda, e de forma mais irresponsável, o envio de um drone militar para a zona de guerra russa, na Crimeia, terminando com a queda e a perda inconsequente do equipamento derrubado pelos aviões russos sem que houvesse qualquer tipo de resposta ou continuidade, caracterizando uma iniciativa inteiramente impensada da parte do governo americano.
Tudo isto foi acompanhado de uma linguagem cada vez mais agressiva e destemperada, que já começou a ser utilizada pelos dois “homens-bomba” que comandaram a política externa de Donald Trump, Mike Pompeo e John Bolton.
A mesma que segue sendo utilizada pelos dois “missionários liberal- internacionalistas” que comandam a política externa do governo de Joe Biden, Anthony Blinken e Jack Sullivan – com a diferença fundamental que os dois democratas veem o mundo como uma luta entre o “bem” e o “mal”, e se consideram evidentemente representantes do “bem”, com a missão de converter o mundo à sua tábua de valores.
Erros
O problema é que por trás desses “desatinos” mais visíveis vem se somando uma quantidade de erros de cálculo e de concepção estratégica de mais longo prazo, que estão conduzindo os Estados Unidos e seus satélites, progressivamente, para um “beco sem saída”.
O primeiro deles, mais ligado diretamente ao início da guerra, foi negar-se a negociar de forma discreta e diplomática a neutralização da Ucrânia e a construção de um novo mapa de segurança e equilíbrio estratégico de longo prazo na Europa.
E o segundo erro, que foi uma consequência imediata do primeiro, foi boicotar as negociações de paz que estavam em curso entre a Rússia e a Ucrânia logo na primeira semana da guerra, apostando no sucesso da guerra econômica que já estava planejada e que seria desencadeada imediatamente pelos países do G7 contra a Rússia.
Duas decisões cruciais, e dois erros de cálculo estratégico – como a história demonstrará – orientados pela mesma visão estratégica dos “missionários de Biden” que desde o início do governo democrata vêm tentando dividir e polarizar o mundo, forçando uma nova Guerra Fria entre países democráticos e países autocráticos, definidos de forma “autocrática” e unilateral pelos próprios Estados Unidos.
Essas duas decisões foram sustentadas na mesma certeza dos americanos e seus satélites de que poderiam impor uma derrota imediata e humilhante à Rússia, com o estrangulamento de sua economia nacional, através de um pacote de sanções econômicas de dimensões desconhecidas, envolvendo o bloqueio europeu do comércio do petróleo e do gás russos, o congelamento e expropriação das reservas e ativos russos depositados nos bancos do G7, e finalmente, através da suspensão de todas as relações financeiras da economia russa com esses mesmos países e todos os demais que viessem a apoiar as sanções globais comandadas por norte-americanos e europeus.
Nos dois casos, entretanto, parece que os Estados Unidos e seus satélites erraram redondamente.
Primeiro, porque a maioria dos Estados do sistema internacional vem se mostrando extremamente reticente a entrar em uma nova Guerra Fria, e vem resistindo terminantemente a tomar partido no conflito da Ucrânia, negando-se a apoiar as sanções econômicas aplicadas por americanos e europeus contra a Rússia.
Dos 194 países com assento nas Nações Unidas, só 47 apoiaram essas sanções, sendo muitos absolutamente insignificantes, como é o caso de Andorra, Mônaco, Islândia, Liechtenstein, Micronésia, San Marino, ou Montenegro do Norte, entre outros.
Em segundo lugar, pesquisas recentes realizadas por universidades europeias e americanas vêm indicando que a maioria da população mundial que vive fora dos países que compõem a coalizão minoritária dos Estados Unidos e seus satélites europeus e asiáticos não veem o mundo como eles, não apoiam a guerra nem as sanções econômicas aplicadas à Rússia
Não se consideram menos democráticos do que os americanos e europeus, e consideram que a “coalizão ocidental” está envolvida no conflito da Ucrânia em defesa de seus interesses geopolíticos, e não em defesa de valores ou direitos humanos supostamente universais.
Mas o que é pior, do ponto de vista euro-americano, é que depois desses erros iniciais de avaliação, a “devastadora” guerra econômica desencadeada contra a Rússia não teve sucesso, ou pelo menos não logrou seus objetivos.
Não conseguiu estrangular de forma instantânea a capacidade financeira dos russos de sustentarem sua ofensiva na Ucrânia, como tampouco teve os impactos esperados sobre o funcionamento interno da economia russa, que conseguiu driblar o cerco comercial e financeiro abrindo novos mercados, redesenhando sua estratégia econômica nacional e alcançando, já em 2023, segundo o FMI, um crescimento econômico positivo.
Neste sentido, erraram uma vez mais os estrategos americanos e europeus.
Suas sanções financeiras e seu bloqueio comercial da Rússia acabaram tendo um efeito absolutamente destrutivo sobre as economias europeias, que enfrentam uma acelerada desindustrialização – como é o caso da Alemanha – ou uma desintegração social e política – como está se assistindo na França e na própria Inglaterra.
As previsões indicam que até 2030 a Inglaterra já poderá ter se transformado num país com renda per capita inferior à da Polônia, que foi até hoje uma fornecedora de mão de obra barata da economia inglesa.
Em parte por conta do Brexit, é verdade, em parte por conta do seu envolvimento cada vez mais agressivo na escalada europeia contra a Rússia.
Crises e desintegrações econômicas e sociais causadas, em última instância, pelas sanções econômicas que cortaram a energia barata da Europa, diminuíram a competitividade de suas economias e atingiram em cheio o salário da população, através da inflação e do aumento dos custos de energia e alimentação.
Vasos comunicantes que estão atuando também na atual crise financeira dos bancos americanos e europeus, premidos pelo aumento da inflação e da taxa de juros, e ainda pela perda de credibilidade de seus títulos públicos, depois do congelamento e expropriação das reservas e aplicações russas.
Resumindo: de todos os pontos de vista que se olhe a evolução da conjuntura internacional, o que se vê é que o bloco formado pelos Estados Unidos e seus satélites está ficando cada vez mais ilhado, mais agressivo, e mais sem saída.
Obsessão militarista
O governo americano de Joe Biden não consegue definir com clareza qual é o objetivo da sua participação cada vez mais direta na Guerra da Ucrânia.
Até onde querem chegar? Quais são suas expectativas e possibilidades mais além da propaganda?
E o mesmo se pode dizer sobre a política cada vez mais agressiva dos norte-americanos com relação à China: quais seus objetivos e até onde estão dispostos a chegar na sua disputa pelo Mar do Sul da China e na sua defesa de Taiwan, enfrentando, neste caso, divisões e fraturas dentro do próprio bloco euro-americano?
Deve-se somar-se a essas incertezas e à perda progressiva de rumo da política externa americana, o aumento da divisão e da polarização cada vez mais agressiva da própria política interna dos Estados Unidos, que não permite nenhum tipo de previsão de longo prazo que não seja a agressividade conjunta dos dois partidos americanos contra a China.
Ao mesmo tempo, é exatamente neste ponto que os norte-americanos vêm sofrendo seus maiores reveses e demonstrando maior incompreensão dos acontecimentos, restando-lhe um apelo cada vez mais explícito ao seu poder militar.
São quase só ameaças, anúncio de novos armamentos, aumento expressivo do orçamento militar de 2023, cheque em branco para a guerra da Ucrânia e reativação de velhas alianças, como no caso da inciativa do Aukus, com Inglaterra e Austrália, membros incondicionais da velha “família colonial de língua inglesa”.
Tal obsessão militarista pode ser a causa de os Estados Unidos não terem conseguido antecipar ou prever o que foi, com certeza, sua maior derrota diplomática desde a “crise dos reféns” da embaixada norte-americana de Teerã, em 1979: o anúncio, na cidade de Pequim, no dia 15 de março de 2023, do acordo mediado pela China de pacificação das relações entre o Irã e a Arábia Saudita, e do restabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países em dois meses mais, junto com seu compromisso mútuo de defesa do princípio da soberania nacional.
Na década de 1950, os Estados Unidos construíram seu esquema de poder no Oriente Médio apoiado no Irã, na Arábia Saudita e em Israel. Em 1979, os norte-americanos perderam o Irã, e agora estão perdendo a Arábia Saudita.
Ou seja, o acordo negociado pela China afasta os Estados Unidos do Oriente Médio e anuncia a chegada da influência chinesa sem nenhuma nova guerra, pelo contrário, através de uma diplomacia da paz, que se soma ao Plano de Paz de 12 pontos apresentado pela China aos governos da Rússia e da Ucrânia, e também aos governos dos demais países envolvidos diretamente nessa guerra, a começar pelos Estados Unidos.
Iniciativas diplomáticas da China na Ásia, Europa, África e América Latina, que anteciparam o anúncio pelo presidente chinês, Xi Jinping, de sua Global Civilization Initiative, o mais ambicioso projeto de pacificação universal jamais apresentado aos povos do mundo por uma grande potência e uma grande civilização.
Somando tudo, e mais a luta interna que hoje divide a sociedade americana, pode-se entender melhor como foi que os Estados Unidos perderam seu prumo, e hoje são a maior ameaça à paz mundial, porque percebem a perda de sua liderança mundial e ainda se sentem ameaçados por uma luta interna cada vez mais violenta. Neste momento, pode- se esperar qualquer tipo de desatino da parte do governo americano e seus satélites europeus, que também se encontram cada vez mais acuados e sem nenhum tipo de projeto novo para o sistema mundial que não seja o de recuar atirando.
José Luís Fiori é professor emérito de Economia Política Internacional da UFRJ, coordenador do GP do CNPq Poder Global e Geopolítica do Capitalismo e do Laboratório de Ética e Poder Global, do NUBEA/ UFRJ; pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (INEEP). Publicou, Poder Global e a Nova Geopolítica das Nações, Ed. Boitempo, SP, 2007, História, Estratégia e Desenvolvimento, Ed. Boitempo 2014; Sobre a Guerra, Ed. Vozes, Petrópolis, 2018; A Síndrome de Babel, Ed. Vozes, 2020; Sobre a Paz, Ed. Vozes, 2021; A Guerra, a Energia, e novo Mapa do Poder Mundial, Ed. Vozes, 2023 (no prelo). É colaborador do jornal Extra Classe.