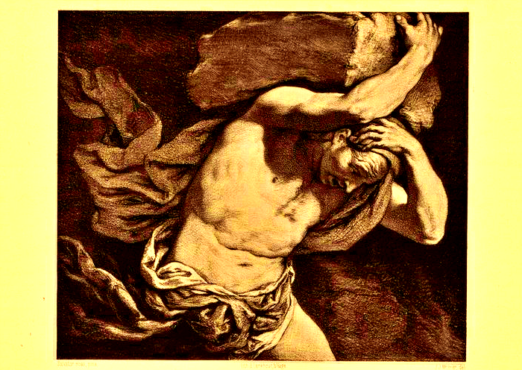Vencemos a escravidão formal, mas não o escravismo 

Imagem: TV Record/ Reprodução
“Há um consenso na reprovação social da escravidão. O escravismo, contudo, parece não gozar do mesmo tipo de consenso desabonador”
Imagem: TV Record/ Reprodução
Nessas discussões em redes sociais – que têm sido a tônica das disputas políticas atualmente – havia um argumento sempre usado contra as políticas afirmativas ou políticas de compensação histórica: que a escravidão havia existido até entre tribos na África.
O falso silogismo era que, sendo tais políticas singulares do Brasil e o que elas visavam reparar era comum na história do mundo, elas representavam uma discrepância econômica inaceitável no Brasil.
Não é meu objetivo aqui avaliar as inúmeras falhas lógicas nesse argumento e sequer entrar muito na questão de que ainda que a “escravidão” fosse uma constante no mundo todo, isso não impede que nossa sociedade resolva reparar tais situações com medidas efetivas no tempo presente.
Ocorre que, para efeitos de força argumentativa, o ponto central não é a lógica, mas o desconhecimento que a imensa maior parte das pessoas tem do que efetivamente ocorreu no Brasil, e em todo o Atlântico Sul.
A questão voltou aos holofotes (de onde nunca deveria ter saído) após o rumoroso caso envolvendo as vinícolas da serra gaúcha.
Trabalhadores em situação análoga à escravidão foram encontrados, sofrendo torturas e todo tipo de maus tratos, trabalhando para terceirizadas que eram base produtiva para tais vinícolas.
A situação chocou o Brasil duas vezes. Num primeiro momento, em função do nível de desumanidade que se pode ver que as sociedades capitalistas no século 21 são capazes de impor a alguns grupos sociais.
E como se não bastasse a vergonha da situação, um segundo choque veio quando membros do legislativo da região passaram a defender os criminosos-empresários, atacar os trabalhadores, e vocalizar (como é, aliás, função do legislativo) o racismo diluído na sociedade brasileira.
De fato, não temos mais escravidão formal. Nem nossa sociedade, nem nossas instituições aceitam mais pessoas na condição de propriedade de outrem.
A escravidão é sim encontrada historicamente em quase todo o mundo.
Por vezes com objetivos ritualísticos e outras vezes por guerras e punições, a escravidão é talvez tão velha quando a própria espécie humana.
O que aconteceu no Brasil, contudo, foi diferente. Entre os séculos 16 e 19 no Atlântico Sul, tendo o Brasil como um dos centros mais dinâmicos, desenvolveu-se todo um sistema social, político e econômico para gerar valor (e transferir para as elites) a partir da exploração econômica da escravidão. Esse sistema é chamado de “escravismo”, e é a verdadeira causa das políticas de compensação históricas.
O caso que ocorreu nas vinícolas, poucos dias depois, verificou-se também, em situações semelhantes, nas empresas que organizaram o festival Lollapalooza neste ano, em São Paulo.
Notícias de trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão nos chegam do Nordeste, Sudeste, Norte, e também Centro-oeste. A perversidade não é monopólio do sul do país. Também muito parecidas são as reações da sociedade e das instituições: no máximo uma vergonha condescendente.
Há um consenso na reprovação social da escravidão. Pouquíssimas pessoas teriam hoje coragem de defender esse tipo de relação social.
Sempre a sociedade dá provas de estar “horrorizada” com os níveis de “desumanidade” destes casos.
O escravismo, contudo, parece não gozar do mesmo tipo de consenso desabonador.
Estranho é que quando o trabalho análogo à escravidão é usado para produção de valor para a burguesia capitalista, ele passa a uma aceitação muda. Talvez envergonhada.
Muito já se escreveu sobre o tipo de capitalismo que surge na América e sua relação histórica com a mão de obra escrava. A antiga tese de que o capitalismo não poderia conviver com a escravidão há muito já foi enterrada, teórica e empiricamente.
O que nos falta fazer na nossa sociedade é denunciar a relação entre o capitalismo brasileiro – e suas construções regionais de riquezas que chegam até os dias presentes – e o escravismo.
Em um contexto de superexploração, retirada de direitos trabalhistas e maximização da extração de valor sobre qualquer tipo de trabalho, o capitalismo faz um caminho de volta ao século 19, e as elites beneficiadas por esses processos voltam a experimentar situações sociais em que elas se sentem confortáveis de “dar a oportunidade” de um trabalhador ou trabalhadora receber apenas a comida ou “um lugar para morar”.
O discurso capitalista legitima esse tipo de prática e a naturaliza, criando até uma atmosfera de “benevolência” nas elites. Como se os corpos dos indesejáveis socialmente só pudessem ocupar o espaço neste mundo se se submetessem ao sentido utilitarista da sociedade capitalista.
Esta é a base da ideia de “negro bom” ou de “indígena que serve ao país”. Aqueles que se subordinam e submetem seus corpos a níveis de exploração brutais, sem reclamar.
Neste estado de coisas, a sociedade branca “permite” que tais pessoas vivam, que tenham minimamente o seu sustento orgânico.
O exemplo limítrofe deste pensamento está na fala de Jair Bolsonaro (2017) sobre o “quilombola” de sete arrobas “que não serve nem para procriar”.
Acordes mais sutis deste mesmo tema, porém, aparecem em todos os lugares da nossa sociedade e das nossas instituições. Toda discussão política que termina com um dos lados mandando o outro “trabalhar” se assenta na ideia de que os corpos dos indesejáveis só têm espaço neste mundo se forem instrumentos de exploração econômica.
E aí aparece a ode ao escravismo. Pessoas trabalhando pelo “privilégio” de comer ou morar são entendidas como relações normais neste país. Num país em que o capitalista “faz o favor” de criar uma empresa “para dar trabalho” aos outros, a lógica da exploração econômica se traveste de uma interpretação ao avesso, e o escravismo está ali presente.
Se fica fácil nestas situações identificar esse pensamento utilitarista e racista na base das práticas sociais brasileiras, é bem mais complicado ver isso nas instituições. Complicado, mas não impossível.
No caso, por exemplo, do ocorrido com as vinícolas gaúchas, o “acordo” feito pelo Ministério do Trabalho com as empresas para indenizar os trabalhadores é uma vergonha em si.
A jurisprudência brasileira declara que ninguém pode “mudar de patamar social” por conta de indenização. Isso faz com que o valor pago pelo extravio de uma mala numa viagem de avião possa chegar até a R$ 25 mil, mais o dano moral, enquanto o acordo feito entre os trabalhadores brutalizados e as vinícolas pagou, em média, R$ 9,6 mil em indenização. Uma mala vale mais do que 2,5 trabalhadores em situação de escravidão para fins de indenização.
Essa percepção de que os indesejáveis seguem sendo indesejados ainda que as elites os tenham abusado é característica do nosso ordenamento jurídico.
O mesmo ocorre com a liberação de agrotóxicos. Certamente as comidas produzidas vão para as mesas das mesmas pessoas que podem ser brutalizadas no seu trabalho, que podem ser vilipendiadas de todas as formas, e que merecem indenizações menores do que uma mala.
As hierarquias sociais que separam os corpos de ganho daqueles que têm direito pleno de usufruir da vida se fazem sentir também pelas instituições que se asseveram “neutras”, “técnicas” e “impessoais”.
O capitalismo agrário-exportador brasileiro germinou a partir da escravidão e, se a duras penas conseguimos construir – no século 21 – um consenso social proscrevendo esse tipo de prática, não conseguimos o mesmo com o escravismo. Nossa sociedade ainda vê como aceitável violentar os corpos de forma extrema para gerar valor para outrem.
Se vai se pagar um salário risível, um prato de comida ou um buraco para dormir, é uma questão de oportunidade.
O que se sabe é que as gradações desse processo obedecem também às gradações da cor da pele. E, desde que o trabalho é visto como uma oportunidade benevolente que os ricos dão para que os indesejáveis possam sobreviver, qualquer indenização derivada desta prática precisa ser aplicada com temperança.
Afinal, não se pode punir empresas por abrirem “postos de trabalho” para os indigentes, os miseráveis e os pobres. Estes desafortunados da criação só se tornam humanos se seus corpos puderem gerar valor.
O escravismo difuso no Brasil do século 21 não se vê ideologicamente tão diferente daquele do século 19, apenas que agora a Princesa Isabel fez o favor de libertar os escravos, e por isso todos devem ser eternamente gratos. Não esqueçam, contudo, da mala.
- Fernando Horta é professor, historiador, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília.