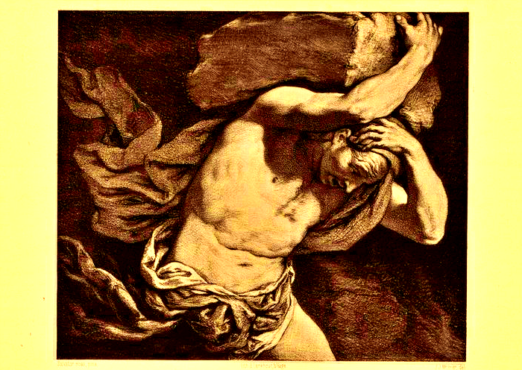Sobre o poder americano: expansão e império 

Foto: Mathew Brady (1862)/ Acervo da Universidade de Yale/ Domínio Público
Os contrabandos, escravos fugitivos, foram parar no Exército da União, mas a sua liberdade só veio com a proclamação da República em 1863
Foto: Mathew Brady (1862)/ Acervo da Universidade de Yale/ Domínio Público
Existe uma questão histórica que permanece até hoje sem uma resposta consistente e definitiva: sobre a especificidade da independência e do desenvolvimento dos Estados Unidos, quando comparado com o de outras colônias europeias situadas ao sul do continente americano.
Como foi afinal que essa colônia inglesa conseguiu conquistar tamanho poder e riqueza a partir de 1783, deixando para trás sua condição de colônia britânica para transformar-se, no Século 20, no país mais rico e poderoso do mundo. E impondo ao resto do mundo, no final do século, algo parecido com um “império militar global”. Com uma história de guerras e conquistas, e de expansão quase contínua do seu “poder global”, mesmo que hoje este poder esteja enfrentando contradições e limites que podem desacelerar e até obstaculizar o seu expansionismo neste Século 21. Senão vejamos.
Do ponto de vista geopolítico, a independência do Estado americano foi um episódio, da grande disputa hegemônica dentro da Europa, entre a Inglaterra e a França, que se prolongou durante todo o Século 18, e de forma particular, entre a Guerra dos Sete Anos (1756-1763) e o fim das guerras napoleônicas, em 1815.
Nesse período, as 13 Colônias conquistaram sua independência, consolidaram seu território, escreveram sua Constituição da Filadélfia e elegeram seu primeiro governo republicano, adotando uma posição de neutralidade no conflito entre as grandes potências.
Depois de sua independência, os Estados Unidos negociaram suas fronteiras e seus tratados comerciais com o “núcleo duro” das grandes potências europeias, com as quais sempre mantiveram relações privilegiadas, em particular com a Inglaterra. E acabaram obtendo vitórias diplomáticas notáveis, porque souberam utilizar a seu favor as divisões das grandes potências e sua fragilidade temporária, começando pelo tratado de paz, cuja versão preliminar foi assinada, em Paris, em 30 de novembro de 1782.
Por outro lado, do ponto de vista geoeconômico, o diferenciador da independência norte-americano foi sua relação complementar, funcional e privilegiada com a economia inglesa, que era naquele momento a principal economia capitalista do mundo, em pleno processo de revolução industrial. Os números indicam que os Estados Unidos foram, durante todo o século 19, uma espécie de “zona de coprosperidade” da Inglaterra, fazendo parte de uma aliança econômica e estratégica que já havia sido decidida pelo primeiro governo constitucional dos Estados Unidos, presidido por George Washington. Uma decisão que foi tomada no momento da assinatura do Jay’s Treaty – entre Inglaterra e Estados Unidos – em 1794, que foi o verdadeiro ponto de partida econômico do “poder americano”. Um tratado, além disto, que deu origem à uma parceria entre os dois países que se manteve e aprofundou nos dois séculos seguintes.
E foi logo após a assinatura do Boundary Treaty, em 1818, também com a Inglaterra, que o secretário de Estado John Quincy Adams falou pela primeira vez de um “destino manifesto” dos Estados Unidos, propondo de imediato a anexação de Cuba e da Flórida ao território americano. Antes que fosse anunciada a Doutrina Monroe, em 1823, uma espécie de “take off” do “expansionismo americano”, confirmado pela anexação do Texas, em 1845, e do Novo México e da Califórnia, em 1848.
Quando chegou a hora da sua Guerra Civil (1861-1865), os Estados Unidos já tinham completado a conquista do seu território continental e haviam dado passos diplomáticos e comerciais extremamente importantes no tabuleiro geoeconômico asiático. No entanto, a Guerra Civil mudou o rumo da história dos Estados Unidos, elevando seu expansionismo a um novo patamar na segunda metade do século 19. Sobretudo depois que se consolidou a aliança indestrutível e expansiva entre o Estado americano e seu capital financeiro, com a utilização dos títulos da dívida pública contraída pela União durante a guerra como alavanca financeira das ferrovias que atravessaram o território americano, integrando e multiplicando seu mercado nacional.
Foi só depois dessa centralização interna de poder e das finanças promovida pela Guerra Civil, que os Estados Unidos iniciaram sua expansão para fora do seu território continental, ao declarar e vencer a Guerra Hispano-Americana e conquistar – pelo Tratado de Paris, de 1898 – Cuba, Guam, Porto Rico e Filipinas. Começava, assim, uma escalada colonial que prosseguiu com a intervenção no Haiti, em 1902; no Panamá, em 1903; na República Dominicana, em 1905; em Cuba, novamente, em 1906; e de novo no Haiti, em 1912. Nesse período, os Estados Unidos substituíram a Inglaterra e assumiram de fato o patrocínio militar da Doutrina Monroe, ao impedirem a invasão da Venezuela, em 1895, pela Inglaterra e Alemanha, que cobravam dívidas do governo venezuelano com os bancos europeus. Logo em seguida, anexaram também o Havaí, em 1897.
Ao entrarem na Primeira Guerra Mundial, em 1917, os Estados Unidos já eram hegemônicos dentro do seu próprio continente, e já ocupavam uma posição significativa no território econômico e geopolítico asiático. Mas foi só aí que começou sua luta para impor sua supremacia na Europa, o verdadeiro segredo da conquista do “poder global” dos Estados Unidos.. Em particular depois da Segunda Guerra Mundial, quando adotam sua estratégia de “contenção universal” da “ameaça comunista” que lhes facilitou o trabalho de construção de uma infraestrutura militar que foi se fazendo cada vez global.
De tal maneira que, ao se dissolver a União Soviética e terminar a Guerra Fria, em 1991, os americanos já possuíam bases ou acordos militares em cerca de 130 dos 194 países do mundo, e mantinham cerca de 300 mil soldados fora dos Estados Unidos. Uma vasta rede de bases e acordos militares que serviriam de base material de sustentação do poder unipolar dos EUA, conquistado através de sua arrasadora vitória na Guerra do Golfo, em 1991/2. Por outro lado, do ponto de vista econômico, no fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos também negociaram as bases da arquitetura monetário-financeira que regulou as relações na economia capitalista mundial, até a crise de 1973, quando os EUA mudaram sua estratégia econômica internacional, deixando para trás seu “desenvolvimentismo” do pós-guerra, e adotando um novo programa neoliberal de desregulação e privatização generalizada dos mercados nacionais.
Depois de 1991, não houve nenhum acordo de paz entre vitoriosos e derrotados, e os Estados Unidos assumiram isoladamente a liderança de um novo projeto de ordenação mundial com características mais imperiais do que hegemônicas. A diferença, desta vez – com relação a 1945 – era que não existia, na década de 90, nenhum outro poder com capacidade de bloquear ou limitar o expansionismo americano, agora na direção do Leste europeu, e dos antigos territórios do Pacto de Varsóvia. Processo que se acelerou depois dos atentados do 11 de setembro de 2001 e da declaração americana de Guerra ao Terrorismo, uma guerra tipicamente imperial e global.
Paralelamente, no campo econômico, a estratégia americana de promoção ativa da abertura e desregulação de todas as economias nacionais, desde a década de 80, multiplicou a velocidade do processo da globalização, em particular dos mercados financeiros. E, no fim da década, o balanço econômico também era muito claro: os Estados Unidos haviam vencido em todos os sentidos. Sua moeda era a base do sistema monetário internacional e a dívida pública norte-americana havia se transformado no principal ativo financeiro de quase todos os governos do mundo. Em síntese, no final dos anos 90, o poder militar americano havia se transformado na infraestrutura coercitiva de um novo tipo de “império militar mundial”. E o processo da globalização financeira havia universalizado a moeda e o capital financeiro norte- americano, chegando perto da criação de um “império financeiro global”.
Entretanto, passada a crise financeira de 2008 e após 20 anos de “guerras sem fim”, sobretudo no território do “Grande Médio Oriente”, o expansionismo americano parece que encontrou uma barreira cada vez mais intransponível nesta terceira década do século 21. E mais ainda depois da pandemia de Covid-19 e do início da Guerra da Ucrânia, em 2021, e da Guerra de Gaza, em 2023. A última tentativa do projeto liberal-cosmopolita do governo democrata de Joe Biden fracassou, a economia capitalista entrou em acelerado processo de “desglobalização”, a estratégia expansiva norte-americana na direção do Leste foi barrada pelas tropas russas na Ucrânia, o “excepcionalismo moral” dos Estados Unidos vêm sofrendo enorme desgaste global com seu apoio incondicional à política israelense de extermínio da população palestina da Faixa de Gaza.
Neste momento, já na terceira década do Século 21, todos estes sinais parecem estar apontando para o nascimento de um a nova ordem internacional multipolar. Mas isto não significa que o Poder Americano esteja vivendo uma “crise terminal”, nem muito menos, que os Estados Unidos venham a abdicar do seu poder e de sua presença internacional. do seu “expansionismo contínuo”. Mas não há a menor dúvida que o “expansionismo contínuo” e o projeto imperial dos Estados Unidos perdeu força e encontrou limites, mesmo que não tenha chegado ao seu ponto terminal.
José Luís Fiori é professor emérito de economia política internacional da UFRJ, coordenador do GP da UFRJ/CNPq “O poder global e a geopolítica do Capitalismo”; e do Laboratório de “Ética e Poder Global”. É autor dos livros Sobre a Guerra (2018), A Síndrome de Babel (2020), Sobre a Paz (2021) e Uma teoria do poder global (2024), todos pela Editora Vozes, Petrópolis. Este artigo foi publicado originalmente no Observatório Internacional do Século XXI, novembro de 2024.